CINECLUBE
de 21.06.2016 a 11.06.2019
Sala Antonio
O Cineclube da Sala Antonio foi um lugar para se assistir coletivamente aos mais diferentes tipos de filme e depois conversar sobre eles informalmente. Ele foi concebido em homenagem a duas iniciativas de instauração de salas de cinema em que a exibição do filme era acompanhada de debates informais: uma em Port of Spain, Trinidad & Tobago, e a outra em Amsterdam, Holanda.
A primeira delas era organizada pelos artistas Peter Doig e Che Lovelace, que toda quinta-feira, transformavam o ateliê de Peter numa sala de cinema e convidavam as pessoas para assistir à projeção de um filme, sempre acompanhada de uma conversa e uma cerveja. O cinema provisório de Peter e Che supria uma carência, em Port of Spain, de salas de cinema que exibissem outros filmes que não os blockbusters americanos.
A segunda iniciativa é organizada pelo cinéfilo Jeffrey Babcock, em diversos lugares da Amsterdam. As projeções ilícitas de Jeffrey são precedidas por uma apresentação em que ele contextualiza os filmes, estabelecendo pontos de intersecção entre estes e o presente.
Amsterdam é bem diferente de Port of Spain e bem diferente de São Paulo. A carência de salas de cinema não é a mesma nas três cidades. Entretanto, como a iniciativa de Jeffrey em Amsterdam demonstra, as coisas não são tão simples assim. A maioria das salas de cinema atuais, com suas programações convencionais, relaciona-se muito mais com o espetáculo do que com qualquer outra coisa, e a maioria dos festivais de filmes clássicos, autorais ou experimentais passa uma quantidade “inassistível” de obras.
Cineclube pretendeu recuperar a experiência coletiva do cinema a partir de propostas que se modificaram ao longo dos anos, seja pela escolha de “mostras temáticas” – como foi o caso das sessões em que foram apresentados filmes dirigidos por artistas ou daquelas em que os filmes espelhavam o contexto político da época –, seja pela apresentação de filmes que se relacionavam com os conceitos investigados pelo Depois do fim da arte.
![]()
21.06.2016
A CHINESA (1967)
[La chinoise]
de Jean-Luc Godard
com Anne Wiazemski, Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto
96 minutos
A chinesa é uma adaptação livre do romance Os demônios escrito por Dostoiévski em 1872. No romance, um grupo de cinco cidadãos descontentes, cada uma representando uma convicção e personalidade ideológica diferente, conspira para derrubar o regime imperial russo por meio de uma campanha revolucionária centrada na violência. Já o filme, rodado em 1967, é ambientado na sua maior parte num apartamento burguês na Paris contemporânea do diretor. Estruturado como uma série de diálogos pessoais e ideológicos dos cinco integrantes de uma célula revolucionária francesa, A chinesa trata dos interesses políticos da Paris de meados dos anos 1960: a formação da Nova Esquerda, o legado de Lenin e da Revolução Russa de 1917, a escalada das atividades militares norte-americanas na região do sudeste asiático e, especialmente, a revolução cultural de Mao Tsé-Tung que estava acontecendo na República Popular da China.
A chinesa não é um dos filmes mais assistidos de Godard, e até 2008, não estava disponível em DVD, nos Estados Unidos. Entretanto, por ter sido realizado em março de 1967, um ano antes dos protestos estudantis de maio de 1968, em Paris, A chinesa tornou-se um prognóstico perspicaz dos acontecimentos políticos mundiais. Os estudantes franceses de maio de 1968 demonstravam uma resistência cosmopolita e transnacional às formas de poder institucionalizado – de governanças corporativas e estatais monolíticas a partidos políticos e sindicatos burocratizados. Essas manifestações de resistência, eram centradas principalmente nas universidades e nas fábricas, e atingiram diversas cidades ao redor do mundo, como Chicago, Praga, Cidade do México, Madri, Tóquio, Berlim...
Em A chinesa, um grupo de estudantes planeja a revolução, no apartamento da mãe de um deles, durante as férias escolares. Na época em que foi lançado, o filme foi fortemente criticado tanto pela direita quanto pela esquerda francesa, que achou os jovens revolucionários ridículos. Godard respondeu que Véronique e seus amigos, os estudantes revolucionários, eram importantes justamente por serem infantis. Influenciado por sua então namorada Anne Wiazensky, uma estudante de filosofia da Universidade de Nanterre, e pelo teatro de Brecht, Godard realiza um retrato da Nova Esquerda francesa, que oscila entre a sátira e o documentário. Explora a metalinguagem, criando um filme que fala sobre cinema, na lacuna entre a ficção e o documentário. Une cinema e marxismo – como matéria representada e como princípio de representação, explicitando a tensão dialética entre palavra e imagem. Mistura cultura pop com arte e com política, revezando atores como Jean-Pierre Léaud, que aparece em diversos filmes de Godard e Truffaut, com ativistas políticos, como Francis Jeanson, professor de filosofia de Wiazensky na Universidade de Nanterre e Omar Diop, militante marxista-leninista senegalês deportado após 1968, preso no Senegal por terrorismo em 1972 e assassinado na cadeia em 1973.
A chinesa é uma das maiores obra de arte contemporâneas porque inclui à dimensão estética/artística um comentário crítico voraz sobre sua época, desvelando as relações entre as transformações artísticas na virada da década de 1960 para 1970 e as manifestações revolucionárias do período.

21.06.2016
A CHINESA (1967)
[La chinoise]
de Jean-Luc Godard
com Anne Wiazemski, Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto
96 minutos
A chinesa é uma adaptação livre do romance Os demônios escrito por Dostoiévski em 1872. No romance, um grupo de cinco cidadãos descontentes, cada uma representando uma convicção e personalidade ideológica diferente, conspira para derrubar o regime imperial russo por meio de uma campanha revolucionária centrada na violência. Já o filme, rodado em 1967, é ambientado na sua maior parte num apartamento burguês na Paris contemporânea do diretor. Estruturado como uma série de diálogos pessoais e ideológicos dos cinco integrantes de uma célula revolucionária francesa, A chinesa trata dos interesses políticos da Paris de meados dos anos 1960: a formação da Nova Esquerda, o legado de Lenin e da Revolução Russa de 1917, a escalada das atividades militares norte-americanas na região do sudeste asiático e, especialmente, a revolução cultural de Mao Tsé-Tung que estava acontecendo na República Popular da China.
A chinesa não é um dos filmes mais assistidos de Godard, e até 2008, não estava disponível em DVD, nos Estados Unidos. Entretanto, por ter sido realizado em março de 1967, um ano antes dos protestos estudantis de maio de 1968, em Paris, A chinesa tornou-se um prognóstico perspicaz dos acontecimentos políticos mundiais. Os estudantes franceses de maio de 1968 demonstravam uma resistência cosmopolita e transnacional às formas de poder institucionalizado – de governanças corporativas e estatais monolíticas a partidos políticos e sindicatos burocratizados. Essas manifestações de resistência, eram centradas principalmente nas universidades e nas fábricas, e atingiram diversas cidades ao redor do mundo, como Chicago, Praga, Cidade do México, Madri, Tóquio, Berlim...
Em A chinesa, um grupo de estudantes planeja a revolução, no apartamento da mãe de um deles, durante as férias escolares. Na época em que foi lançado, o filme foi fortemente criticado tanto pela direita quanto pela esquerda francesa, que achou os jovens revolucionários ridículos. Godard respondeu que Véronique e seus amigos, os estudantes revolucionários, eram importantes justamente por serem infantis. Influenciado por sua então namorada Anne Wiazensky, uma estudante de filosofia da Universidade de Nanterre, e pelo teatro de Brecht, Godard realiza um retrato da Nova Esquerda francesa, que oscila entre a sátira e o documentário. Explora a metalinguagem, criando um filme que fala sobre cinema, na lacuna entre a ficção e o documentário. Une cinema e marxismo – como matéria representada e como princípio de representação, explicitando a tensão dialética entre palavra e imagem. Mistura cultura pop com arte e com política, revezando atores como Jean-Pierre Léaud, que aparece em diversos filmes de Godard e Truffaut, com ativistas políticos, como Francis Jeanson, professor de filosofia de Wiazensky na Universidade de Nanterre e Omar Diop, militante marxista-leninista senegalês deportado após 1968, preso no Senegal por terrorismo em 1972 e assassinado na cadeia em 1973.
A chinesa é uma das maiores obra de arte contemporâneas porque inclui à dimensão estética/artística um comentário crítico voraz sobre sua época, desvelando as relações entre as transformações artísticas na virada da década de 1960 para 1970 e as manifestações revolucionárias do período.
28.06.2016
HUNGER (2008)
de Steve McQueen
com Michael Fassbender, Liam Cunningham, Stuart Graham
92 minutos
Hunger é o primeiro filme de longa-metragem do artista/cineasta inglês Steve McQueen. O filme trata da greve de fome de prisioneiros irlandeses, liderada por Bobby Sands, em 1981. Lançado em 2008, no Festival de Cannes, Hunger recebeu o prêmio Caméra d’Or para diretores iniciantes, o prêmio do Festival de cinema de Sydney e o Prêmio Diesel no Festival Internacional de Toronto. McQueen estudou arte na Goldsmiths, em Londres, onde começou a fazer filmes. Ganhou o Turner Prize em 1999 e, em 2006, viajou ao Iraque como “artista enviado oficial” da Grã Bretanha. Em 2009, participou da 53ª Bienal de Veneza e da 29ª Bienal de São Paulo. Em 2014, seu terceiro longa-metragem, 12 anos de escravidão, recebeu o Oscar de Melhor Filme, tornando-se o primeiro vencedor dirigido ou produzido por um afrodescendente.
Na semana passada, Cineclube foi inaugurado com a projeção de A chinesa, de Jean-Luc Godard, de 1967. Numa entrevista de 1981, Godard chama os estudantes de A chinesa de infantis e compara-os a Bobby Sands, o oficial do Exército Republicano Irlandês que havia iniciado uma greve de fome para obter direitos políticos para os presos irlandeses. Godard compara Sands com Véronique e seus amigos, argumentando que eles são importantes justamente porque são infantis. Esse comentário é citado por Steve McQueen numa entrevista sobre seu filme Hunger. McQueen diz que ficou com a imagem de uma criança sentada à mesa diante de um prato de comida, com os pais dizendo “você não vai se levantar se não comer tudo”. A criança diz não. É o único poder de decisão que ela tem: abster-se de comer. McQueen realiza uma homenagem a Godard, numa “refilmagem” do diálogo entre Véronique e seu professor. Na versão de McQueen, a conversa se dá entre Bobby Sands e seu líder espiritual, um padre católico. É praticamente o único diálogo do filme, numa cena de 17 minutos, apresentada sem cortes e com a câmera estática. Esse trecho, assim como o de Godard, funciona como um intervalo que precede um ato violento: em A chinesa, o assassinato do ministro soviético da cultura Michel Sholokov e, em Hunger, o suicídio progressivo dos prisioneiros irlandeses, inaugurado por Bobby Sands.
A greve retratada em Hunger foi o ápice de um protesto de cinco anos organizado por prisioneiros do IRA, na prisão de Maze, na Irlanda do Norte. Seu objetivo era restabelecer o estatuto político dos prisioneiros, assegurando aquilo que ficou conhecido como as "cinco exigências":
1. não usar uniforme de presidiário;
2. não realizar trabalho forçado;
3. liberdade de associação com outros prisioneiros e de organização de atividades educacionais e recreativas;
4. direito a receber uma visita, uma carta e um pacote por semana;
5. que os dias de protesto não fossem descontados quando do cômputo da redução da pena.
A primeira fase foi o chamado “protesto do cobertor”, em 1976, que começou quando o governo britânico retirou o status de “categoria especial” dos prisioneiros paramilitares, uma condição que tinha sido conquistada em 1972, e que assegurava que eles seriam tratados como prisioneiros de guerra. Durante esta fase, os presidiários se recusavam a usar o uniforme da prisão e andavam nus ou envoltos em cobertores. Em 1978, depois de uma série de ataques àqueles que deixavam suas celas para esvaziar os penicos, o protesto se transformou no chamado “protesto sujo”, no qual os prisioneiros se recusavam a sair de suas celas para se lavar e cobriam as paredes com seus excrementos. Em 1980, ocorreu a primeira greve de fome, que terminou após 53 dias e , em 1981, a segunda greve de fome, liderada por Bobby Sands e que durou cerca de sete meses.
Hunger trata da intransigência política da era Thatcher, hoje recolocada em foco devido aos acontecimentos recentes na Grã Bretanha.
![]()
28.06.2016
HUNGER (2008)
de Steve McQueen
com Michael Fassbender, Liam Cunningham, Stuart Graham
92 minutos
Hunger é o primeiro filme de longa-metragem do artista/cineasta inglês Steve McQueen. O filme trata da greve de fome de prisioneiros irlandeses, liderada por Bobby Sands, em 1981. Lançado em 2008, no Festival de Cannes, Hunger recebeu o prêmio Caméra d’Or para diretores iniciantes, o prêmio do Festival de cinema de Sydney e o Prêmio Diesel no Festival Internacional de Toronto. McQueen estudou arte na Goldsmiths, em Londres, onde começou a fazer filmes. Ganhou o Turner Prize em 1999 e, em 2006, viajou ao Iraque como “artista enviado oficial” da Grã Bretanha. Em 2009, participou da 53ª Bienal de Veneza e da 29ª Bienal de São Paulo. Em 2014, seu terceiro longa-metragem, 12 anos de escravidão, recebeu o Oscar de Melhor Filme, tornando-se o primeiro vencedor dirigido ou produzido por um afrodescendente.
Na semana passada, Cineclube foi inaugurado com a projeção de A chinesa, de Jean-Luc Godard, de 1967. Numa entrevista de 1981, Godard chama os estudantes de A chinesa de infantis e compara-os a Bobby Sands, o oficial do Exército Republicano Irlandês que havia iniciado uma greve de fome para obter direitos políticos para os presos irlandeses. Godard compara Sands com Véronique e seus amigos, argumentando que eles são importantes justamente porque são infantis. Esse comentário é citado por Steve McQueen numa entrevista sobre seu filme Hunger. McQueen diz que ficou com a imagem de uma criança sentada à mesa diante de um prato de comida, com os pais dizendo “você não vai se levantar se não comer tudo”. A criança diz não. É o único poder de decisão que ela tem: abster-se de comer. McQueen realiza uma homenagem a Godard, numa “refilmagem” do diálogo entre Véronique e seu professor. Na versão de McQueen, a conversa se dá entre Bobby Sands e seu líder espiritual, um padre católico. É praticamente o único diálogo do filme, numa cena de 17 minutos, apresentada sem cortes e com a câmera estática. Esse trecho, assim como o de Godard, funciona como um intervalo que precede um ato violento: em A chinesa, o assassinato do ministro soviético da cultura Michel Sholokov e, em Hunger, o suicídio progressivo dos prisioneiros irlandeses, inaugurado por Bobby Sands.
A greve retratada em Hunger foi o ápice de um protesto de cinco anos organizado por prisioneiros do IRA, na prisão de Maze, na Irlanda do Norte. Seu objetivo era restabelecer o estatuto político dos prisioneiros, assegurando aquilo que ficou conhecido como as "cinco exigências":
1. não usar uniforme de presidiário;
2. não realizar trabalho forçado;
3. liberdade de associação com outros prisioneiros e de organização de atividades educacionais e recreativas;
4. direito a receber uma visita, uma carta e um pacote por semana;
5. que os dias de protesto não fossem descontados quando do cômputo da redução da pena.
A primeira fase foi o chamado “protesto do cobertor”, em 1976, que começou quando o governo britânico retirou o status de “categoria especial” dos prisioneiros paramilitares, uma condição que tinha sido conquistada em 1972, e que assegurava que eles seriam tratados como prisioneiros de guerra. Durante esta fase, os presidiários se recusavam a usar o uniforme da prisão e andavam nus ou envoltos em cobertores. Em 1978, depois de uma série de ataques àqueles que deixavam suas celas para esvaziar os penicos, o protesto se transformou no chamado “protesto sujo”, no qual os prisioneiros se recusavam a sair de suas celas para se lavar e cobriam as paredes com seus excrementos. Em 1980, ocorreu a primeira greve de fome, que terminou após 53 dias e , em 1981, a segunda greve de fome, liderada por Bobby Sands e que durou cerca de sete meses.
Hunger trata da intransigência política da era Thatcher, hoje recolocada em foco devido aos acontecimentos recentes na Grã Bretanha.
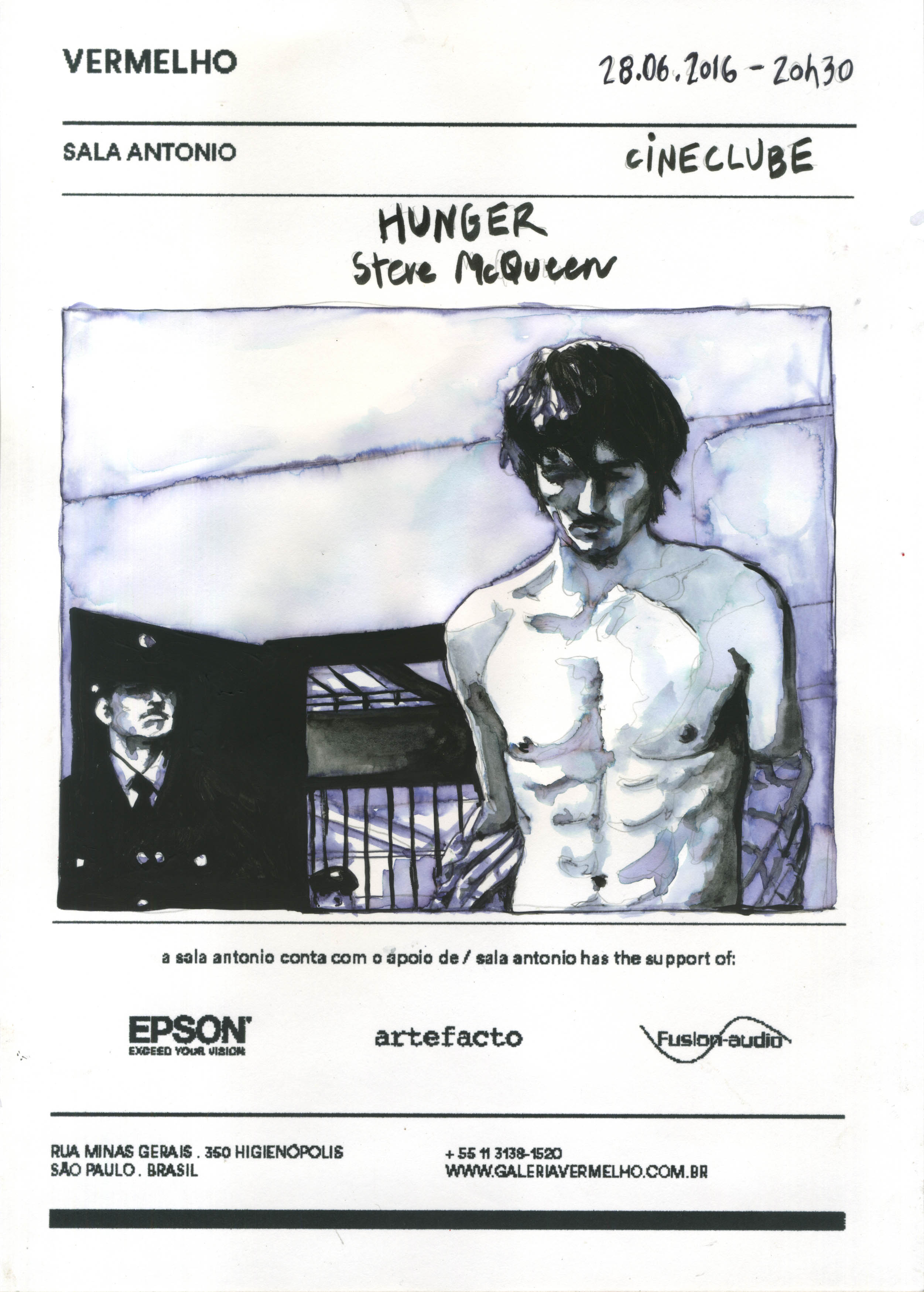
05.07.2016
MAGNICÍDIO (1978)
[Jubilee]
de Derek Jarman
com Jenny Runacre, Neil Campbell, Jordan, Adam Ant
106 minutos
![]()
05.07.2016
MAGNICÍDIO (1978)
[Jubilee]
de Derek Jarman
com Jenny Runacre, Neil Campbell, Jordan, Adam Ant
106 minutos
MAGNICÍDIO (1978)
[Jubilee]
de Derek Jarman
com Jenny Runacre, Neil Campbell, Jordan, Adam Ant
106 minutos

Magnicídio de Derek Jarman, é considerado o primeiro filme punk feito para o cinema. Produzido em 1977, no ano do Jubileu de Prata da rainha Elizabeth II, o filme apresenta uma Inglaterra tomada pelo caos, cuja rainha teria sido assassinada, as gangues dominariam as ruas e o slogan punk “faça-você mesmo” seria a ordem do dia. Jarman estudou Artes Visuais na Universidade de Londres e começou trabalhando como cenógrafo e figurinista de peças de teatro e ópera. Sua formação artística fica clara em toda sua produção cinematográfica, seja nas imagens ou nos diálogos. Dois de seus filmes deixam explícita essa sua relação com as artes visuais, na forma de homenagens a artistas: Caravaggio (1986), sua obra mais famosa, e Blue (1993), seu último filme, uma reflexão poética radical sobre Yves Klein. Em 1986, Jarman descobre ser HIV positivo, tornando pública sua condição e lutando até sua morte, em 1993, pelos direitos e pela dignidade das pessoas com AIDS.
Na semana passada, Cineclube apresentou Hunger (2008), do artista e cineasta inglês Steve McQueen. O filme trata da greve de fome que ocorreu na prisão de Maze em 1981, decorrente da intransigência política da era Thatcher e hoje recolocada em foco devido aos acontecimentos recentes na Europa. Na Grã Bretanha futurista de Magnicídio, a Lei, a Ordem e o Estado foram abolidos, e a mídia ocupa o lugar vazio que eles deixaram, tornando-se a única “realidade”.
O filme foi idealizado durante a ascensão política de Margaret Thatcher que, em 1975, tinha se tornado líder do partido conservador britânico e, em 1979, seria eleita primeira-ministra do Reino Unido, cargo que ocuparia até 1990. Magnicídio foi filmado em seis semanas no estúdio particular de Derek Jarman e em locações nos subúrbios de Londres, com um pequeno orçamento de 200.000 libras. Adam Ant, que interpreta Kid, um dos personagens principais, recebeu apenas 40 libras por sua participação no filme.
No ano da estreia, em 1978, Jarman tinha 36 anos, já tinha feitos diversos cenários e figurinos, trabalhado como designer de produção com Ken Russel e dirigido seu primeiro filme de longa-metragem Sebastiane (1976). Era considerado, portanto, muito “velho” e “chique” para ser punk, e sua apresentação da cena londrina foi severamente criticada por diversos integrantes do movimento. Siouxsie Sioux dos Siouxsie and the Banshees, que faz uma ponta no filme, chamou Magnicídio de “lixo hippie” e a fashionista punk Vivienne Westwood lançou em sua loja uma camiseta insultando Jarman e chamando seu filme de “a coisa mais chata e repugnante que eu já vi”.
Magnicídio surgiu da ideia de fazer um filme experimental sobre Jordan, que interpreta Amyl Nitrate [nitrito de amila], o termo para a substância vulgarmente conhecida como “poppers”, um afrodisíaco ilegal utilizado em clubes e boates. Jordan era uma garota punk com um visual chamativo, que trabalhava na loja cult de Westwood e de seu marido Malcom McLaren, então empresário dos Sex Pistols. O projeto original de Jarman transformou-se no filme que vamos assistir, na visão de uma Grã Bretanha caótica e pós-apocalíptica, onde todos podem ser corrompidos –mesmo os punks com suas posturas iconoclastas, que nunca se “venderiam para o sistema”. Jarman mostra ironicamente que o Reino Unido é um sonho sem futuro, satirizando e desmontando suas instituições mais honradas: a monarquia, a igreja, a pátria, o casamento, a família. No filme, a igreja de Westminster é um clube de strip-tease e o palácio de Buckingham, um estúdio de gravação.
Em 1993, um pouco antes de sua morte, Jarman escreveu: “No final, Magnicídio se tornou profético. A profecia de John Dee (interpretado por Richard O’Brien, criador do Rocky Horror Show) se tornou realidade – as ruas foram queimadas em Brixton e Toxteth, Adam chegou ao Top of the Pops e se comprometeu com o governo de Margaret Thatcher se apresentando no baile das Falklands” – organizado em 1982, para angariar fundos para a Guerra das Malvinas. Faltou dizer que em 1992, Vivienne Westwood recebeu a OBE (Ordem do Império Britânico) e em 2006 aceitou o título de DBE (Dama Comendadora da Ordem Mais Excelente do Império Britânico) por seus serviços para a indústria da moda. Ainda segundo Jarman, só que agora pela boca de seus personagens: “Todos eles se vendem, de uma forma ou de outra,”...“nossa única esperança é reconstruirmo-nos como artistas ou anarquistas, como você preferir”.
Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.
Magnicídio de Derek Jarman, é considerado o primeiro filme punk feito para o cinema. Produzido em 1977, no ano do Jubileu de Prata da rainha Elizabeth II, o filme apresenta uma Inglaterra tomada pelo caos, cuja rainha teria sido assassinada, as gangues dominariam as ruas e o slogan punk “faça-você mesmo” seria a ordem do dia. Jarman estudou Artes Visuais na Universidade de Londres e começou trabalhando como cenógrafo e figurinista de peças de teatro e ópera. Sua formação artística fica clara em toda sua produção cinematográfica, seja nas imagens ou nos diálogos. Dois de seus filmes deixam explícita essa sua relação com as artes visuais, na forma de homenagens a artistas: Caravaggio (1986), sua obra mais famosa, e Blue (1993), seu último filme, uma reflexão poética radical sobre Yves Klein. Em 1986, Jarman descobre ser HIV positivo, tornando pública sua condição e lutando até sua morte, em 1993, pelos direitos e pela dignidade das pessoas com AIDS.
Na semana passada, Cineclube apresentou Hunger (2008), do artista e cineasta inglês Steve McQueen. O filme trata da greve de fome que ocorreu na prisão de Maze em 1981, decorrente da intransigência política da era Thatcher e hoje recolocada em foco devido aos acontecimentos recentes na Europa. Na Grã Bretanha futurista de Magnicídio, a Lei, a Ordem e o Estado foram abolidos, e a mídia ocupa o lugar vazio que eles deixaram, tornando-se a única “realidade”.
O filme foi idealizado durante a ascensão política de Margaret Thatcher que, em 1975, tinha se tornado líder do partido conservador britânico e, em 1979, seria eleita primeira-ministra do Reino Unido, cargo que ocuparia até 1990. Magnicídio foi filmado em seis semanas no estúdio particular de Derek Jarman e em locações nos subúrbios de Londres, com um pequeno orçamento de 200.000 libras. Adam Ant, que interpreta Kid, um dos personagens principais, recebeu apenas 40 libras por sua participação no filme.
No ano da estreia, em 1978, Jarman tinha 36 anos, já tinha feitos diversos cenários e figurinos, trabalhado como designer de produção com Ken Russel e dirigido seu primeiro filme de longa-metragem Sebastiane (1976). Era considerado, portanto, muito “velho” e “chique” para ser punk, e sua apresentação da cena londrina foi severamente criticada por diversos integrantes do movimento. Siouxsie Sioux dos Siouxsie and the Banshees, que faz uma ponta no filme, chamou Magnicídio de “lixo hippie” e a fashionista punk Vivienne Westwood lançou em sua loja uma camiseta insultando Jarman e chamando seu filme de “a coisa mais chata e repugnante que eu já vi”.
Magnicídio surgiu da ideia de fazer um filme experimental sobre Jordan, que interpreta Amyl Nitrate [nitrito de amila], o termo para a substância vulgarmente conhecida como “poppers”, um afrodisíaco ilegal utilizado em clubes e boates. Jordan era uma garota punk com um visual chamativo, que trabalhava na loja cult de Westwood e de seu marido Malcom McLaren, então empresário dos Sex Pistols. O projeto original de Jarman transformou-se no filme que vamos assistir, na visão de uma Grã Bretanha caótica e pós-apocalíptica, onde todos podem ser corrompidos –mesmo os punks com suas posturas iconoclastas, que nunca se “venderiam para o sistema”. Jarman mostra ironicamente que o Reino Unido é um sonho sem futuro, satirizando e desmontando suas instituições mais honradas: a monarquia, a igreja, a pátria, o casamento, a família. No filme, a igreja de Westminster é um clube de strip-tease e o palácio de Buckingham, um estúdio de gravação.
Em 1993, um pouco antes de sua morte, Jarman escreveu: “No final, Magnicídio se tornou profético. A profecia de John Dee (interpretado por Richard O’Brien, criador do Rocky Horror Show) se tornou realidade – as ruas foram queimadas em Brixton e Toxteth, Adam chegou ao Top of the Pops e se comprometeu com o governo de Margaret Thatcher se apresentando no baile das Falklands” – organizado em 1982, para angariar fundos para a Guerra das Malvinas. Faltou dizer que em 1992, Vivienne Westwood recebeu a OBE (Ordem do Império Britânico) e em 2006 aceitou o título de DBE (Dama Comendadora da Ordem Mais Excelente do Império Britânico) por seus serviços para a indústria da moda. Ainda segundo Jarman, só que agora pela boca de seus personagens: “Todos eles se vendem, de uma forma ou de outra,”...“nossa única esperança é reconstruirmo-nos como artistas ou anarquistas, como você preferir”.
Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.
12.07.2016
PEPI, LUCI, BOM E OUTRAS GAROTAS DE MONTÃO (1980)
[Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón]
de Pedro Almodóvar
com Carmen Maura, Félix Rotaeta, Alaska, Eva Silva, Cecilia Roth
82 minutos

Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão é o primeiro filme de longa-metragem do diretor espanhol Pedro Almodóvar. O filme trata da amizade bizarra entre Pepi, uma herdeira que quer se vingar de um policial corrupto que a estuprou, Luci, uma dona de casa bela, recatada e masoquista, e Bom, uma cantora lésbica adolescente. Pedro Almodóvar ganhou destaque como diretor e roteirista durante a chamada Movida Madrileña, um renascimento cultural que se seguiu à morte do ditador espanhol Francisco Franco, em 1975. Seus primeiros filmes, com narrativas abertamente sexuais, foram produzidos com as economias geradas por seu trabalho como funcionário da empresa de telefonia espanhola Telefónica.
Com a comédia Mulheres à beira de um ataque de nervos, indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1989, Almodóvar tornou-se uma celebridade, e Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão apareceu para o público internacional. Desde então seus filmes já receberam dois Oscars, quatro British Film Awards, seis European Film Awards, dois Globos de Ouro, nove Goya Awards e quatro prêmios no Festival de Cannes, entre outros.
Na semana passada, Cineclube exibiu Magnicídio de Derek Jarman (1978), uma crítica controversa ao conservadorismo político em ascensão na Inglaterra do final dos anos 1970. Dois anos depois da estreia de Magnicídio, Pedro Almodóvar filma, em Madri, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, capturando a sensação de liberdade cultural, sexual e política na Espanha pós-Franco, por meio da utilização de elementos kitsch, humor ultrajante e sexualidade explícita. A onda cultural hedonista que nasceu em Madri – a Movida Madrileña – espalhou-se rapidamente para as outras cidades espanholas, por meio de uma imprensa que tinha acabado de ficar livre da censura. Influências do movimento punk misturavam-se com o New Romantic, num movimento cujo objetivo era transgredir os tabus impostos pelo regime de Franco, relacionados principalmente à liberdade de expressão, às questões de sexualidade e gênero e ao uso de drogas.
Em 1972, Pedro Almodóvar, um recém-contratado da Telefónica comprou, com seu primeiro salário, uma câmera Super-8. Começou a fazer filmes de curta-metragem que eram exibidos no circuito da noite em Madrid e Barcelona. Estes primeiros curtas não possuíam trilha sonora, devido a falta de recursos financeiros. O próprio Almodóvar dublava todos os personagens, acompanhados de sons reproduzidos por meio de um toca-fita cassete que ele mesmo pilotava. Em 1978, Almodóvar fez seu primeiro filme em 16mm e em 1980, finalizou, depois de um ano e meio de filmagem, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, também em 16mm. O filme foi produzido com um orçamento de meio milhão de pesetas, obtidas sobretudo através de empréstimos, e com uma equipe de voluntários que trabalhavam aos fins de semana.
O roteiro de Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão surgiu originalmente sob o título Erecciones generales [Ereções gerais], idealizado como uma fotonovela de publicação underground e que acabou sendo adaptado a roteiro cinematográfico por incentivo da atriz Carmen Maura, que era do mesmo grupo de teatro que Almodóvar (a ideia original continua presente no filme, na cena do concurso de maior pênis, apresentado prazerosamente pelo próprio Almodóvar).
Sob a influência dos filmes de Paul Morrissey e, acima de tudo, de John Waters, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão abusa do politicamente incorreto, mostrando uma juventude frívola, contraditória e sem valores, que se estruturava sobre conservadorismo, machismo e preconceito – o rosto da nova Espanha, monarquista e “democrática”.
Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.
Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão é o primeiro filme de longa-metragem do diretor espanhol Pedro Almodóvar. O filme trata da amizade bizarra entre Pepi, uma herdeira que quer se vingar de um policial corrupto que a estuprou, Luci, uma dona de casa bela, recatada e masoquista, e Bom, uma cantora lésbica adolescente. Pedro Almodóvar ganhou destaque como diretor e roteirista durante a chamada Movida Madrileña, um renascimento cultural que se seguiu à morte do ditador espanhol Francisco Franco, em 1975. Seus primeiros filmes, com narrativas abertamente sexuais, foram produzidos com as economias geradas por seu trabalho como funcionário da empresa de telefonia espanhola Telefónica.
Com a comédia Mulheres à beira de um ataque de nervos, indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1989, Almodóvar tornou-se uma celebridade, e Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão apareceu para o público internacional. Desde então seus filmes já receberam dois Oscars, quatro British Film Awards, seis European Film Awards, dois Globos de Ouro, nove Goya Awards e quatro prêmios no Festival de Cannes, entre outros.
Na semana passada, Cineclube exibiu Magnicídio de Derek Jarman (1978), uma crítica controversa ao conservadorismo político em ascensão na Inglaterra do final dos anos 1970. Dois anos depois da estreia de Magnicídio, Pedro Almodóvar filma, em Madri, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, capturando a sensação de liberdade cultural, sexual e política na Espanha pós-Franco, por meio da utilização de elementos kitsch, humor ultrajante e sexualidade explícita. A onda cultural hedonista que nasceu em Madri – a Movida Madrileña – espalhou-se rapidamente para as outras cidades espanholas, por meio de uma imprensa que tinha acabado de ficar livre da censura. Influências do movimento punk misturavam-se com o New Romantic, num movimento cujo objetivo era transgredir os tabus impostos pelo regime de Franco, relacionados principalmente à liberdade de expressão, às questões de sexualidade e gênero e ao uso de drogas.
Em 1972, Pedro Almodóvar, um recém-contratado da Telefónica comprou, com seu primeiro salário, uma câmera Super-8. Começou a fazer filmes de curta-metragem que eram exibidos no circuito da noite em Madrid e Barcelona. Estes primeiros curtas não possuíam trilha sonora, devido a falta de recursos financeiros. O próprio Almodóvar dublava todos os personagens, acompanhados de sons reproduzidos por meio de um toca-fita cassete que ele mesmo pilotava. Em 1978, Almodóvar fez seu primeiro filme em 16mm e em 1980, finalizou, depois de um ano e meio de filmagem, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão, também em 16mm. O filme foi produzido com um orçamento de meio milhão de pesetas, obtidas sobretudo através de empréstimos, e com uma equipe de voluntários que trabalhavam aos fins de semana.
O roteiro de Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão surgiu originalmente sob o título Erecciones generales [Ereções gerais], idealizado como uma fotonovela de publicação underground e que acabou sendo adaptado a roteiro cinematográfico por incentivo da atriz Carmen Maura, que era do mesmo grupo de teatro que Almodóvar (a ideia original continua presente no filme, na cena do concurso de maior pênis, apresentado prazerosamente pelo próprio Almodóvar).
Sob a influência dos filmes de Paul Morrissey e, acima de tudo, de John Waters, Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão abusa do politicamente incorreto, mostrando uma juventude frívola, contraditória e sem valores, que se estruturava sobre conservadorismo, machismo e preconceito – o rosto da nova Espanha, monarquista e “democrática”.
Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.
09.08.2016
OS IDIOTAS (1998)
[Idioterne]
de Lars von Trier
com Bodil Jørgensen, Jens Albinus, Anne Louise Hassing
117 minutos
Os idiotas, do controverso diretor dinamarquês Lars von Trier, apresenta um grupo de artistas que se posicionam contra normas sociais burguesas, fingindo serem idiotas e agindo como deficientes mentais, em lugares públicos. Os idiotas é parte da trilogia denominada Um coração de ouro – composta também pelos filmes Ondas do destino (1996) e Dançando no escuro (2000) –, inspirada no conto dinamarquês homônimo, sobre uma garota que mantém seu “coração de ouro”, apesar das tragédias que lhe acontecem. Os idiotas é regido pelos princípios do Manifesto Dogma 95, elaborado por Lars von Trier e Thomas Vinterberg, e assinado, posteriormente, pelos diretores Kristian Levring e Søren Kragh-Jacobsen. O objetivo do grupo de cineastas era “purificar” o cinema, por meio do ênfase na narrativa e na interpretação dos atores, e da eliminação de truques técnicos, de efeitos especiais, caros e espetaculares e de modificações por meio de pós-produção. Festa de família, de Vinterberg, lançado e premiado em Cannes, em 1998, recebeu o certificado de Dogma # 1, e Os idiotas, também lançado em Cannes no mesmo ano, de Dogma # 2.
No semestre passado Cineclube apresentou uma série de filmes que se relacionavam, de alguma forma, com governos autoritários, como a China maoísta, a Inglaterra de Thatcher ou a Espanha de Franco. Filmes que discutiam, criticavam ou sinalizavam o difícil lugar do “outro”, do “diferente”. Este semestre vamos partir daí, apresentando Os idiotas, que aborda o preconceito de forma violenta, entre o o corajoso, o leviano e, mesmo, o preconceituoso, evidenciando o brilhante manipulador que é Lars von Trier. O roteiro foi escrito por ele em 40 dias e 80% do filme foi captado, também por ele, com uma câmera Sony VX 1000, conforme as diretrizes do Manifesto Dogma 95, também conhecidas como os “10 Mandamentos” ou o “Voto de Castidade”. São elas:
1. A filmagem deve ser feita em locação. Não se deve usar adereços de cena ou cenários artificiais (se um determinado adereço for necessário para a história, deve ser escolhida uma locação onde ele se encontre).
2. O som não deve ser gravado separadamente da imagem e vice-versa (música só deve ser utilizada se estiver tocando onde a cena estiver sendo filmada).
3. A câmera deve ser utilizada na mão (qualquer movimento ou imobilidade conseguidos manualmente são permitidos).
4. O filme deve ser colorido. Iluminação especial não é permitida (se a cena tiver pouca luz, uma única lâmpada deve ser acoplada à câmera ou a cena deve ser cortada).
5. Efeitos óticos e filtros são proibidos.
6. O filme não deve conter ação superficial.
7. Alienação temporal e geográfica são proibidas (isso quer dizer que o filme deve acontecer aqui e agora).
8. Filmes de gênero são inaceitáveis.
9. O formato do filme deve ser Academy 35 mm.
10. O diretor não deve ser creditado.
Vinterberg e Trier fechavam seu manifesto com um último parágrafo: “Além disso, eu juro como diretor que vou abandonar qualquer gosto pessoal. Já não sou um artista. Eu juro me abster de criar uma “obra”, já que considero o instante mais importante que o todo. Meu objetivo máximo é forçar a verdade para fora de meus personagens e locações. Eu juro fazer isso por todos os meios disponíveis e ao custo de qualquer bom gosto ou de quaisquer considerações estéticas”.
A forma crua de Os idiotas – que segue as regras descritas acima – se aproxima daquela dos filmes caseiros e amadores, dos documentários cotidianos que se multiplicam no YouTube e afins. Um formato que ainda é associado à veracidade – da mesma maneira que as fotografias em preto e branco de alguns anos atrás –, mas que elucida mais a respeito do contexto de produção da imagem do que da realidade documentada. Um formato que pretende colocar o espectador diante de uma suposta “realidade” em oposição à “ficção” espetacular das produções cinematográficas recentes. Somado à crueza do assunto e da abordagem escolhida por Trier – de moral e estética controversas –, coloca o observador numa posição bem pouco confortável: frente a frente ao retrato fiel da angústia e frustração de uma parte da intelligentsia contemporânea, infeliz em sua própria pele, mas incapaz de explorar as possibilidades de uma mudança genuína. Não é uma visão nem um pouco agradável e, por isso, desde seu lançamento em Cannes, o filme vem provocando reações violentas entre leigos e especialistas, que vão desde a sensação de tontura e náusea até demonstrações de ódio e raiva. Segundo Lars von Trier: este é um filme feito “por idiotas, sobre idiotas e para idiotas”.

16.08.2016
A GANGUE (2014)
[Plemya]
de Miroslav Slaboshpitsky
com Grygoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy
126 minutos
Cineclube apresenta, na próxima terça-feira, 16 de agosto, A gangue, primeiro longa-metragem do diretor ucraniano Miroslav Slaboshpitsky. O filme se passa num internato para adolescentes surdos, onde um novo aluno é levado a participar de um sistema de crime organizado, envolvendo roubo e prostituição. Inteiramente “falado” em Língua de Sinais Ucraniana, propositadamente sem legendas, A gangue é um filme mudo contemporâneo, sem a estilização anacronista que isso poderia significar. O elenco levou um ano para ser escolhido – na Ucrânia e nos países vizinhos – e, a maioria dos atores não tinha experiência nenhuma com cinema. Durante todo o processo – ensaios, oficinas de atuação e filmagens –, o diretor se comunicou com a equipe através de um intérprete, para garantir que o roteiro – escrito com diálogos convencionais – fosse seguido. Miroslav Slaboshpitsky graduou-se em direção de cinema no State Institute of Theatre and Arts de Kiev, trabalhou como repórter durante a tragédia de Chernobyl e, atualmente, está produzindo seu segundo longa, Luxembourg, que trata desse assunto. Lançado em 2014, A gangue ganhou o Grande Prêmio Nespresso e o Grande Prêmio da Semana da Crítica no Festival de Cannes de 2014.
Na semana passada, Cineclube exibiu Os idiotas de Lars von Trier, que coloca o observador na incômoda posição de voyeur, cúmplice das ações dos atores, no limite entre o inocente e o perverso. Em A gangue, Slaboshpitsky coloca o espectador diante de uma tribo a qual ele não pertence.
Como qualquer outro filme em língua estrangeira, os diálogos poderiam ser legendados. Mas, a fim de explicitar a condição alienante dos personagens em relação ao mundo, o diretor decidiu não o fazer. Sem os detalhes dos diálogos, a visibilidade domina, potencializada por uma trilha sonora construída cuidadosamente, sem som orquestral ou música incidental para direcionar emoções, nem diálogos para estimular interpretações racionais. Para nós, espectadores-voyeurs, os personagens parecem se comunicar por segredos ou códigos de honra invioláveis, que não conhecemos.
Na maior parte de A gangue, uma steadycam segue os personagens, em longos planos impecavelmente coreografados, promovendo uma imersão total na narrativa e produzindo uma sensação crescente de tensão e ansiedade. A câmara se move mas o ponto de vista não, envolvendo o público ainda mais. Esse mal-estar acaba gerando um tipo diferente de identificação: primordial e sensorial. A fotografia azulada e simétrica, corrobora a frieza do clima, das personagens e da abordagem.
Apesar disso, as performances surpreendentes do grupo inexperiente de atores surdos explicitam um tipo de intimidade – fria e distante – entre os personagens. Eles aparecem quase como figuras arquetípicas, às vezes parecendo animais, às vezes robôs, trazendo o público para dentro da tribo, ao mesmo tempo que, deliberadamente, o empurram para longe dela.

23.08.2016
SE... (1968)
[If...]
de Lindsay Anderson
com Malcom McDowell, Ricchard Warwick, Christine Noonan,
111 minutos
Cineclube apresenta, na próxima terça-feira, 23 de agosto, Se... do diretor britânico Lindsay Anderson. O filme narra as aventuras de um grupo de alunos rebeldes, numa escola pública inglesa, que, insatisfeitos com o sistema educacional opressor, planeja uma grande vingança. Malcom McDowell, em sua primeira aparição no cinema, representa Mick Travis, o líder do grupo, chamando a atenção de Stanley Kubrick, que o convida a fazer o papel de Alex DeLarge, em Laranja Mecânica. Lindsay Anderson começou sua carreira como crítico de cinema, escrevendo artigos polêmicos para revistas especializadas. Em meados dos anos 1950, com os cineastas Karel Reisz e Tony Richardson, fundou o movimento Free Cinema e elaborou o Manifesto por um Cinema Livre, uma reação vigorosa à estagnação do cinema inglês. Em sua extensa carreira, que começou em 1948 e se encerrou no começo dos anos 90, realizou apenas seis longas de ficção. Se..., seu maior sucesso, foi o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 1969.
Na semana passada, Cineclube exibiu A gangue, de Miroslav Slaboshpitsky, sobre um internato para jovens surdos na Ucrânia. Hoje, vamos assistir a Se..., de Lindsay Anderson, cujo documentário de 1954, Thursday’s Children, trata da educação de crianças surdas. Filmado num internato inglês, o Cheltenham College, onde o diretor estudou, Se... oferece uma radiografia distorcida e selvagem de uma época em que os sonhos foram destruídos. Anderson analisa sem piedade o sistema educacional das elites britânicas, apresentando uma possível revolta contra ele, construída de forma alegórica. A narrativa clássica é dinamitada pela erupção violenta de anarquia, niilismo, surrealismo e absurdo.
Se... é o primeiro filme da trilogia cáustica, iconoclasta e psicodélica sobre Travis – composta também por Um homem de sorte (1973) e Hospital dos malucos (1982) –, dirigida por Anderson, estrelada por McDowell e escrita por David Sherwin. Nela, o personagem é concebido como um “personagem em arco”, um estado das coisas, uma função que muda conforme as necessidades da narrativa. Por meio deste personagem-ícone chamado Mick Travis, interpretado pelo rosto novo e singular de Malcolm McDowel, Anderson inicia a análise cinematográfica de uma década, entre seu obscuro amanhecer em 1968 e seu horrível crepúsculo em 1982. Travis representa o princípio e o final dos anos 70, acredita que a destruição, a fuga mental, a imaginação e a anarquia são a única forma viável de lutar contra o sistema (que inclui o público, como mostra a última cena do filme).
O filme foi rodado poucos meses antes das manifestações de maio de 68, na França, e inspirado por Zero de Conduta (1933), de Jean Vigo, que apresenta um sistema educacional repressivo e burocratizado. O título refere-se ao famoso poema de Rudyard Kipling, escrito na forma de um conselho paterno a seu filho. A Paramount Pictures, responsável pela distribuição, não gostou nenhum pouco do resultado, evitando ao máximo colocar Se... em circulação. Entretanto, o filme acabou fazendo sucesso, ficando notório por sua abordagem vigorosa, libertária e ousada para a época e, obviamente, chocando a sociedade britânica, conhecida por seu apego às tradições (Se... é também o primeiro filme a ter um nu frontal feminino aprovado pela censura inglesa).

30.08.2016
GÜEROS (2014)
[Güeros]
de Alonso Ruizpalacios
com Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre, Ilse Salas, Leonardo Ortizgris
106 minutos
Na próxima terça-feira, 30 de agosto, Cineclube apresenta Güeros, filme de estreia do diretor mexicano Alonso Ruizpalacios (depois disso, faremos uma pausa nas apresentações e retornaremos no final de setembro). Güeros se passa durante a greve estudantil que teve lugar na Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), em 1999, um período político efervescente, marcado por protestos e barricadas. Quatro jovens, entre a inércia, o desinteresse e o engajamento furioso, percorrem a Cidade do México, em busca de um roqueiro mexicano obscuro, desconhecido e prestes a morrer. A palavra güeros refere-se a uma forma pejorativa de chamar pessoas de pele clara ou cabelos loiros. Ela tem origem na palavra huero, (da expressão huevo huero: ovo podre, não fecundado) utilizada para denominar pessoas pálidas e doentes. Ruizpalacios estudou cinema na Cidade do México, mudando-se a seguir para Londres. Em 2014, Güeros recebeu os prêmios de melhor filme no Prémio Ariel, melhor filme de estreia no Festival de Berlim e melhor filme latino-americano no Festival de San Sebastián.
Rodado em preto e branco, em formato 4:3, Güeros é um road movie urbano. Apresenta a violência sistêmica difusa que transforma as subjetividades dos jovens, em fantasmas ou sombras (nome de um dos personagens principais), na lacuna entre o politicamente alienado e o ideologicamente orientado. A realização aprofunda ainda mais o clima de indefinição – investindo no preto-e-branco, na metalinguística, na alternância radical de ritmos e na desconstrução do próprio discurso. A busca do ídolo de infância de um dos personagens se torna uma longa viagem de autodescoberta, através das fronteiras invisíveis de uma megalópole contemporânea. O percurso dos personagens resvala em aspectos sociais, econômicos, políticos e geográficos, sem aprofundá-los mas tornando-os, junto com os ruídos e os enquadramentos, elementos estruturais do filme.
A história se passa durante a greve contra a decisão do governo de instaurar uma taxa de inscrição para a UNAM, que sempre fora gratuita. Logo, as disparidades sociais começaram a surgir dentro do movimento estudantil, estabelecendo distância entre os grupos. Aquilo que começara como símbolo da dissidência da juventude, terminou como uma crise existencial para muitos dos envolvidos, que encontraram-se não apenas sem uma universidade, mas sem um propósito na vida, sem um lugar, sem algo para acreditar. Güeros é, por um lado, um retrato desta fase particular da história do México que culminou no massacre de 43 estudantes secundaristas no estado de Guerrero em 2014, por outro, uma reflexão poética sobre uma parte da juventude mexicana, deslocada das grandes lutas políticas de seu tempo.
Esta mão dupla está presente também nas referências cinematográficas de Ruizpalacios, que evocam filmes da Nouvelle Vague dos anos 60, como o Acossado de Godard, e obras existencialistas mais recentes, como Estranhos no Paraíso de Jim Jarmush ou Slacker de Richard Linklater. Poeta niilista pós-moderno, Sombra, um dos personagens principais diz, em determinado momento do filme: “Se o mundo é uma estação de trem e as pessoas são os passageiros, aqueles que permanecem na estação e veem os trens passarem são os poetas, os que vêm e não vão”.
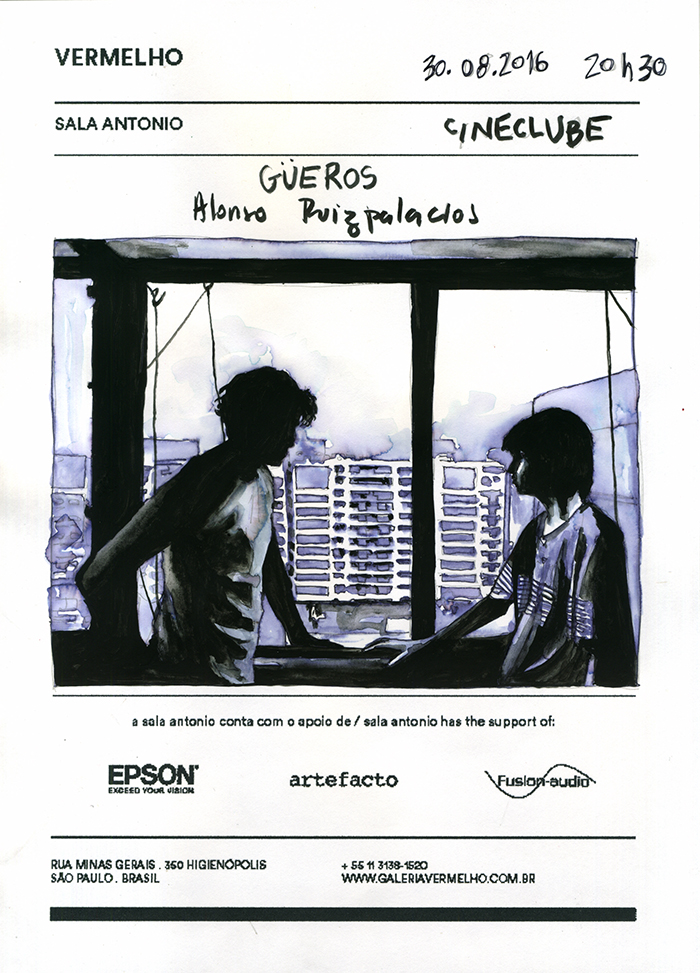
04.10.2016
ESTRANHOS NO PARAÍSO (1984)
[Strangers Than Paradise]
de Jim Jarmusch
com John Lurie, Danny Rozen, Eszter Balint, Richard Edson
89 minutos
Estranhos no Paraíso, do diretor norte-americano Jim Jarmusch, é um emblema da geração 80. O filme mostra as derivas de um americano nascido na Hungria, seu melhor amigo e sua prima recém chegada de Budapest. Os EUA são apresentados como um paraíso sem encanto, palco do artificial por excelência, dos estrangeirismos domesticados, dos ícones da cultura de massa, do enlatado, da cultura junkie. O paraíso não é exatamente o que se espera. As paisagens são entediantes e melancólicas como a vida dos personagens, as trapaças não dão certo e o amor não se materializa. Jim Jarmusch estudou na escola de cinema da Universidade de Nova Iorque e trabalhou, no início da carreira, como assistente do cineasta Nicholas Ray. Estranhos no Paraíso recebeu em 1984, o Prêmio Caméra d'Or para filmes de diretores iniciantes em Cannes e o Leopardo de Ouro no Festival Internacional de Locarno; em 1985, recebeu o Prêmio Especial do Júri no Sundance Film Festival e o Prêmio de Melhor Filme da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema (NSFC); em 1987, o Prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Kinema Junpo, entre outros.
Na última sessão, Cineclube apresentou Güeros, de Alonso Ruizpalacios, cujo argumento e fotografia deixam claras as influências do filme de Jarmusch. Em São Paulo, Estranhos no Paraíso foi, num certo sentido, um filme autobiográfico de parte da geração 80, que compreendia, já naqueles dias, o quanto as vidas, banais e sem muito sentido dos personagens, tinham de parecido com suas próprias vidas. Ao contrário da geração dos que “lutaram contra a ditadura”, ou a favor e contra tantas outras coisas, era preciso carregar o peso de um mundo cada vez mais desprovido de ilusões. Essa sensação, de estranhamento no mundo, aparentemente impossível de ser dita em palavras, estava lá, resumida num filme sobre figuras perdidas, que não faziam de sua inadaptação motivo de “crítica social militante”.
Jim Jarmusch é um dos principais representantes do cinema que ganha corpo no início dos anos 80. Influenciado tanto pela ficção pós-estruturalismo quanto pelo cinema japonês de mestres como Ozu e Mizoguchi, dialoga com o filme B, com o pastelão italiano e com a música alternativa, dirigindo diversos videoclipes (Talking Heads, Big Audio Dynamite, Neil Young, Tom Waits...) e utilizando ícones da música pop como atores. Seus filmes abrem espaço para o universo híbrido e pluralizado da geração que almoça e janta assistindo à televisão. O resultado de tantas possibilidades de entretenimento, de tantos lugares a visitar, de tantos programas de TV, contudo, aparece nitidamente como tédio e ausência de rumo. Um cinema pós-punk: não no sentido de um bando de pessoas vestidas de preto e com o rosto pálido repleto de melancolia, mas sim de um tédio neo-existencialista que se apossa da juventude antes revoltada e ativista. Seus personagens não se revoltam mais, mas também não querem se assumir como deprimidos – simplesmente se entediam. Suas paisagens parece feitas de retalhos da sociedade capitalista: lanchonetes, lojas, placas, hotéis – um mórbido amontoado de instalações “sem arquitetura”. A câmera fixa, os longos planos e a ausência de close-ups somam-se aos diálogos, propositalmente banais e quebrados, para apresentar o tédio e desilusão dos personagens. Além disso, o próprio filme foi produzido nesse tempo expandido da narrativo, tendo sido rodado durante 4 anos.
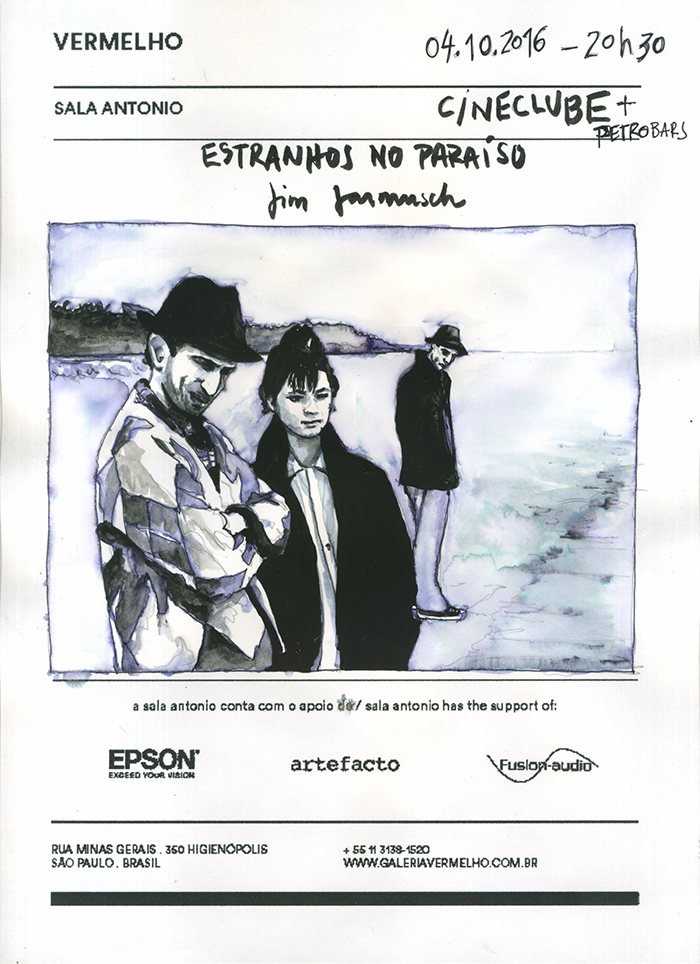
11.10.2016
EU TU ELE ELA (1974)
[Je Tu Il Elle]
de Chantal Akerman
com Chantal Akerman, Niels Arestrup, Claire Wauthion
90 minutos

Je Tu Il Elle, primeiro longa metragem da cineasta belga Chantal Akerman, mostra Julie (interpretada por Akerman) se desnudando, física e psicologicamente, diante da câmera. Sozinha em seu apartamento, acompanhada pelo caminhoneiro que lhe dá carona ou na companhia da ex-namorada em Paris, Julie é objeto de desejo e sujeito desejante. Longos planos fixos, arranjados em três grupos narrativos e compostos com rigor e aspereza cinematográficos, formam um conjunto que oscila entre a auto-exposição e a intimidade. Chantal Akerman nasceu na Bélgica em 1950 e, com 15 anos, após assistir O demônio das onze horas (1965) de Jean-Luc Godard, decidiu fazer cinema. Três anos depois, ingressou no Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion (INSAS), uma escola de cinema em Bruxelas. Logo no começo do curso, acabou abandonando os estudos para fazer Saute ma ville (1971), seu primeiro curta. No mesmo ano, mudou-se para Nova Iorque, entrando em contato com os filmes de Stan Brackhage, Jonas Mekas, Michael Snow, Yvonne Rainer e Andy Warhol. De volta a Bélgica, produziu Eu Tu Ele Ela, em 1974. Akerman foi professora de cinema na The European Graduate School, ao lado de Peter Greenaway e Sophie Calle e, desde 2001, seus trabalhos são apresentados em museus e galerias, integrando inúmeras exposições, entre elas, a 56a Bienal de Veneza, em 2015; a 29a Bienal de São Paulo em 2010 e a Documenta de Kassel, em 2002.
Na semana passada, assistimos a Estranhos no Paraíso de Jim Jarmusch, uma narrativa pós-punk sobre o “paraíso” norte-americano dos anos 1980. Filmado em preto e branco, longos planos são separados por intervalos pretos, estabelecendo a atmosfera de tédio e desilusão do filme. Hoje vamos assistir a Eu Tu Ele Ela, produzido 10 anos antes por Chantal Akerman. Com apenas 24 anos, Akerman apresenta uma negação explícita das convenções que estereotiparam as representações das mulheres pela arte europeia. No filme, a artista dá literalmente corpo a seu manifesto, numa exposição direta que culmina com o ato homossexual feminino, rompendo assim com todas as construções pelas quais a arte, durante séculos, considerou o espectador masculino como destino do retrato da nudez feminina.
Em Eu Tu Ele Ela, a mulher já não é a figura passiva que aguarda na cama convidativa e desarmada. No interior de um quarto imune às coordenadas da sociedade, ela enfrenta um tipo de expiação por um tempo arbitrário, seguindo uma lei interna. Sua ação se assemelha a muitas performances artísticas da época, para as quais repetição e duração eram elementos constituintes de significado.
Akerman se suicidou em 2015, após a morte de sua mãe. Filha de judeus poloneses que viveram o holocausto, fez do vazio, da falta, daquilo sobre o que seus pais se recusavam a falar, o centro inspirador de seu trabalho. Nele, o peso da história é evidente, não da história oficial, com h maiúsculo, mas da outra história, daquela que não está nos livros, que refere-se à vida que está à margem, à impossibilidade de se situar confortavelmente no mundo. a cineasta se dedica às elipses do cinema narrativo e, através de estratégias subversivas, desvela a assimetria entre os padrões de vida convencionais e alternativos. É, acima de tudo, uma das diretoras mais importantes de sua geração pois retrata o “universo feminino” de uma maneira que une respeito pela diferença e pela liberdade. Por causa disso ou apesar disso, sempre evitou participar de mostras e festivais em que seu trabalho fosse estereotipado a partir do conceito de guetos. Segundo ela: “quando as pessoas me perguntam se sou uma cineasta feminista, respondo que sou uma mulher”.
Após a sessão, o Petrobars estará aberto servindo drinques e apresentando um vídeo-comentário sobre o filme de hoje.
18.10.2016
FACES (1968)
[Faces]
de John Cassavetes
com John Marley, Gena Rowlands, Lynn Carley
129 minutos
Continuando a sequência de filmes em preto e branco iniciada em agosto, Cineclube apresenta Faces, do cineasta norte-americano John Cassavetes. O filme apresenta a falência moral e afetiva do casamento de um executivo e sua mulher mais jovem. Palavras vazias, risadas forçadas, música alta, câmera em movimento constante e muitos close-ups compõem um desabafo perturbador sobre uma sociedade doente. O cenário é devastador. Em um universo de cinismo, humilhação, sofrimento e alcoolismo, o comportamento das personagens, sempre patéticas, varia entre a arrogância e a estupidez. Com uma honestidade brutal, Cassavetes explicita a alienação da sociedade norte-americana e a desintegração das convenções sociais. O diretor graduou-se em 1950 na American Academy of Dramatic Arts, onde conheceu sua futura mulher e musa, Gena Rowlands, que interpreta a personagem principal. É considerado um pioneiro do cinema independente, tendo dirigido uma série de filmes que foram parcialmente produzidos por ele mesmo. Faces, seu segundo longa-metragem, foi financiado com o dinheiro que recebeu por interpretar o marido de Mia Farrow em O bebê de Rosemary de Roman Polanski. Ao ser lançado, Faces foi indicado para três Oscars, (Melhor Roteiro original, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Atriz Coadjuvante) mas acabou não ganhando nenhum deles.
Na semana passada, assistimos a Eu Tu Ele Ela, de Chantal Akerman. Nele, longos planos com a câmera parada estabelecem uma atmosfera de monotonia e repetição. Hoje vamos assistir a Faces, filme produzido por Cassavetes em 16mm. Nele, a câmera na mão, os planos instáveis, os cortes rápidos, as quebras constantes de eixo, as elipses e as aproximações extremas misturadas com os planos abertos fazem com que o diretor pareça estar vagando pela cena, procurando alguma “ação” em potencial. A câmera é tão bêbada quanto os personagens, funcionando como o reflexo de seu desconforto em suas posições sociais. As longas sequências apresentam personagens que falam sem parar sem conseguir se comunicar. Não há flashbacks para explicar o passado de ninguém e não há discursos morais. As cenas parecem improvisadas – apesar de filmadas depois de muitos ensaios –, refletindo a inquietação dos personagens, suas tentativas desesperadas de se fixar em algo ou alguém que possa resgatá-los de suas existências privilegiadas mas vazias.
A única exceção é o plano final – um plano longo, de enquadramento fixo e estudado – para o qual todo o filme converge, mostrando que o cinema de Cassavetes é um cinema do planejamento, ainda que não pareça. A produção de Faces demorou três anos – seis meses de filmagem e dois anos e meio entre montagem e pós-produção –, resultando num primeiro corte de 6 horas e, eventualmente, na versão que vamos assistir, com 129 minutos. O controle de custos só foi possível porque a maior parte dessas etapas foram realizadas na própria casa de Cassavetes e Rowlands, em Los Angeles, com a participação de todos os envolvidos.
Faces é uma sequência de imagens e sons que ecoam o vazio e o desespero que as “belas” aparências não conseguem esconder. Como o nome do bar da segunda cena do filme anuncia, Cassavetes nos convida a ingressar no The Loser’s Club e passar um tempo junto aos “perdedores” da sociedade norte-americana do final dos anos 1960.

25.08.2016
A FITA BRANCA (2009)
[Das weiße Band]
de Michael Haneke
com Christian Friedel, Ernst Jacobi, Leonie Benesch, Ulrich Tukur, Josef Bierbichler
144 minutos
Cineclube continua a mostra de filmes em preto e branco, apresentando A fita branca, do cineasta austríaco Michael Haneke. O filme é uma história de fantasmas sem fantasmas (ou com um tipo diferente de fantasma). Nela, uma série de acidentes sinistros começa a acontecer num vilarejo alemão, em 1913, um pouco antes da primeira guerra mundial. A presença de um “mal” latente é encoberta pela educação rígida, extremamente religiosa, autoritária e opressiva dos habitantes. Haneke a desvela com um despojamento violento: close-ups de caras limpas, de feições sem traços de culpa, remorso ou ódio. O contexto do filme é o do berço do nazismo e a fita branca do título – que as crianças usam como sinal de vergonha pelos pecados cometidos – refere-se à etiquetação dos inimigos políticos da Alemanha nazista. Michael Haneke estudou filosofia, psicologia e teatro na Universidade de Viena. Ao graduar-se, trabalhou como crítico de cinema e como editor e dramaturgo na televisão alemã Südwestfunk. Atualmente, além de dirigir filmes, dá aulas na Academia de Cinema de Viena. A fita branca estreou em Cannes em 2009, recebendo a Palma de Ouro e o Prêmio Internacional da Crítica. Em 2010, recebeu o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e o Prêmio BBC Four de Melhor Filme.
Na semana passada, assistimos a Faces de John Cassavetes, um retrato sobre uma sociedade doente e desesperada. Hoje vamos assistir a A fita branca, um retrato de uma sociedade também doente ou, no mínimo, já contaminada com o vírus da doença que começa a se manifestar.
Apesar de situado num vilarejo alemão do começo do século XX, o filme não trata necessariamente de uma época ou lugar determinados, mas sim da origem do “mal”, do terror. A história poderia ter sido localizada na Síria, em Gana ou na Palestina, mas como o diretor é alemão, ele preferiu situá-la num contexto de crise, próximo a ele: o instante anterior à eclosão da primeira guerra mundial, quando as sementes do nazismo estariam sendo plantadas. No filme, um narrador conta a história a partir de algum lugar no futuro, apresentando a situação como um “modelo” de alguma coisa e dando pistas quanto à sua relação com o desabrochar do nazismo em toda a sua exuberância demencial.
Tudo começa na família, a mais criticada das instituições. Haneke constrói as relações dos personagens a partir da leitura de uma série de livros sobre a educação de crianças no interior da Alemanha. Muitas histórias e detalhes foram inspirados nesses livros como, por exemplo, o uso da fita branca como um meio de punição ou a cena do fazendeiro atacando a plantação de repolho.
A lógica contínua de destruição e autodestruição que une os integrantes do núcleo familiar, justamente enquanto os desune, é materializada numa violência silenciosa. A imagem em preto e branco potencializa esse mistério, funcionando também para evitar um falso naturalismo que sugeriria um conhecimento exato dos acontecimentos. Haneke usa filme colorido e depois retira a cor na pós-produção conseguindo, dessa maneira, uma gama de cinzas de temperaturas diferentes entre o branco e o preto.
A fita branca é sua primeira grande produção. O projeto ficou em desenvolvimento por mais de dez anos e, depois de filmado, passou por uma extensiva pós-produção, que englobou desde retoques de sombras indevidas até a substituição de telhas de Eternit por telhas de cerâmica (na cena do baile). As atuações do elenco infantil são magistrais, as quinze crianças foram escolhidas entre sete mil entrevistados durante um período de 6 meses; o cenário e o figurino são impecáveis, compostos a partir de fotografias da época, uma das primeiras a ser documentada por meio delas.
Michael Haneke compara seu filme com uma rampa de esqui: “o filme é a rampa. É importante que ela seja bem construída, mas uma vez que você está no ar, você está por sua conta”.

01.11.2016
TETSUO – O HOMEM DE FERRO (1989)
[Tetsuo]
de Shinya Tsukamoto
com Tomorowo Taguchi, Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka
67 minutos
Cineclube apresenta Tetsuo – o homem de ferro, do cineasta japonês Shinya Tsukamoto, em comemoração à ressaca da Noite do Terror. O filme narra as desventuras de um empregado de escritório que, após atropelar fatalmente um homem com fetiche por metais, vê seu corpo transformar-se, lenta e dolorosamente. Aterrador, bizarro e “pós-moderno” – com tudo de melhor e pior que o termo significa – o filme tornou-se um clássico do horror cyberpunk e é um cruzamento disforme entre o mangá e as primeiras obras de David Lynch e David Cronenberg. Tsukamoto cria um suspense burlesco e bizarro, numa atmosfera inumana entre o terror gore e a ficção científica. O diretor começou a fazer filmes com 14 anos, quando ganhou uma câmera de Super 8, a seguir formou um grupo de teatro com Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka e Tomorowo Taguchi, que trabalharam com ele em Tetsuo – o homem de ferro. O filme – dirigido, escrito, produzido, editado, fotografado e estrelado por Tsukamoto – estreou internacionalmente no festival de filmes de terror Fantafestival em Roma, recebendo o prêmio de melhor filme.
Na semana passada, assistimos a A fita branca de Michael Haneke, um filme de suspense fora dos padrões. Hoje vamos continuar nossa mostra em preto e branco, com um cult do terror japonês. Tetsuo – o homem de ferro é um filme hermético, em preto e branco, com pouquíssimos diálogos, que abusa de efeitos especiais crus, stop-motion, cortes e colagens abruptas de várias cenas desencontradas. A narrativa maluca, aborda e transcende a alienação, o fetichismo, o terrível avançar tecnológico, culminando num terror gore. A experiência cinematográfica única torna-se completa com o uso da câmera na mão, a edição vertiginosa, o flash forward, a excelente fotografia suja e opressora e a música industrial e crua de Chu Ishiwaka, que ajuda a manter o clima paranoico de descontrole e até aversão.
Baseado em um peça que Tsukamoto escreveu, atuou e dirigiu no colégio, Tetsuo – o homem de ferro é tanto repleto de referências cinematográficas ocidentais (desde as primeiras e “virulentas” obras de David Cronenberg, passando pelos frenéticos trabalhos de montagem e fotografia de Sam Raimi, até às composições estilizadas dos filmes mudos), quanto de homenagens aos filmes japoneses de samurais e monstros mutantes, ao tradicional teatro Kabuki e aos mangás para adultos. Foi o primeiro filme realizado em 16 mm por Tsukamoto – que antes só utilizara Super 8. O diretor também escreveu, fotografou, editou, concebeu os efeitos especiais e ainda teve tempo de protagonizar o acima mencionado fetichista de metais. Quando necessário, dividiu o manejo da câmera com sua namorada Kei Fujiwara (que faz a personagem feminina principal e que, depois de Tetsuo – o homem de ferro, dirigiu diversos filmes autorais). As filmagens duraram 18 meses e foram realizadas na maior parte no apartamento de Fujiwara, onde toda a equipe, com exceção de Tomorowo Taguchi (que interpreta o personagem principal) morava. Taguchi, numa entrevista recente, diz que num determinado momento, toda a equipe de iluminação abandonou o projeto e ele mesmo teve que dar conta da iluminação das cenas.
Apesar da extrema limitação orçamentária e da ínfima distribuição, Tetsuo – o homem de ferro, acabou tornando-se um filme cult, representando as angústias de uma geração. Na época em que foi lançado, em 1989, foi interpretado como uma metáfora da AIDS e da ansiedade sexual que a doença produzia. Ao mesmo tempo, o filme já previa, de maneira violenta, os perigos que poderiam decorrer das relações humanas com uma tecnologia desumanizante.

08.11.2016
ERASERHEAD (1977)
[Eraserhead]
de David Lynch
com Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates
89 minutos
Cineclube continua a sequência de suspenses bizarros, apresentando o clássico “cult” Eraserhead, primeiro longa-metragem do diretor norte-americano David Lynch. O filme se passa numa paisagem industrial distópica, sombria, desolada e esfumaçada. Henry Spencer, um operário reservado e calado se vê obrigado a casar com Mary X, uma antiga namorada que diz ter tido um filho dele. A vida a dois não é fácil e Mary acaba abandonando Henry, que fica sozinho com o “bebê”. A atmosfera de pesadelo é potencializada pela fotografia em preto e branco e pelo desenho de som impecável, elaborado conjuntamente por Lynch e Alan Splet. Eraserhead já contém muitos dos elementos obscuros presentes nos filmes posteriores do diretor, do zoom para um mundo paralelo e misterioso, ao “interlúdio” no palco teatral ou à representação dualista do feminino nas figuras da loira e da morena. David Lynch estudou pintura na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, onde começou a fazer curtas. Em 1971, mudou-se com a mulher e a filha para Los Angeles, para estudar cinema no conservatório do American Film Institute, onde desenvolveu Eraserhead. Escrito, produzido e dirigido por ele, o filme estreou no festival Filmex em Los Angeles, para uma plateia insignificante de 25 pessoas, tendo sido previamente recusado no Festival de Cannes e no Festival de Nova Iorque. Tornou-se popular ao passar nas sessões da meia-noite do circuito underground norte-americano.
Na semana passada, assistimos a Tetsuo – o homem de ferro de Shinya Tsukamoto, um terror “pós-moderno”, hermético, em preto e branco e com pouquíssimos diálogos. Hoje vamos assistir a Eraserhead, também “pós-moderno”, hermético, em preto e branco e com pouquíssimos diálogos. Ambos os filmes se passam numa locação pós-industrial, onde os personagens principais – trabalhadores urbanos – se defrontam com uma situação surrealista, aterradora. A atmosfera perturbadora, nos dois casos, foi construída com o auxílio de um desenho de som impecável. Além disso, ambos os filmes foram produzidos com orçamentos baixíssimos e uma equipe minúscula. Entretanto, enquanto Tetsuo abusa de efeitos especiais trash, quase caseiros, Eraserhead, foi construído meticulosamente e demoradamente, levando cinco anos para ser terminado.
Eraserhead foi produzido com uma bolsa de $10.000,00 dada pelo American Film Institute, para um roteiro de vinte e uma páginas. Esperava-se que o filme tivesse vinte minutos, tomando como base o cálculo usual na indústria cinematográfica de um minuto por página. Entretanto, não foi bem isso que aconteceu. As filmagens começaram em maio de 1972, numas cavalariças abandonadas no campus da escola, onde Lynch improvisou um estúdio de filmagem, um de edição de som, uma cozinha, um banheiro e onde ele acabou morando. O diretor estabeleceu um cronograma de produção trabalhoso e minucioso que fez com que, no decorrer da produção, o dinheiro da bolsa acabasse e o filme tivesse que ser interrompido. Numa determinada cena, por exemplo, Henry abre uma porta e somente depois de um ano, a cena seguinte, dele entrando no quarto, pode ser filmada. Durante todo o tempo, Jack Nance, que interpreta Henry, manteve o corte de cabelo exótico do personagem.
Eraserhead só pode ser terminado graças a empréstimos do pai de Lynch e de alguns de seus amigos, Sissy Spacek, entre eles, além daquilo que Lynch ganhava, trabalhando como entregador de jornais e que Catherine Coulson – sua assistente e esposa de Nance (que interpretou a mulher do tronco, anos depois, em Twin Peaks) – ganhava como garçonete. A trilha sonora demorou mais um ano para ser finalizada. Depois de gravados, os sons sofreram modificações no timbre, na frequência e na velocidade, sendo utilizados em conjunto (em algumas cenas foram usadas quinze camadas de sons gravados em fitas diferentes). Na estreia, Lynch mixou a trilha sonora num volume altíssimo, dificultando ainda mais a recepção do filme. Depois dela, o som do filme foi remixado e vinte minutos foram cortados.
Lynch sempre evitou dar qualquer chave de interpretação para Eraserhead. Mas diz-se que o roteiro foi influenciado por suas leituras na escola de cinema, quando entrou em contato com A metamorfose, de Franz Kafka e O nariz, de Nikolai Gogol. Além disso, especula-se que a experiência da paternidade tenha sido a base da construção da narrativa. A primeira filha do cineasta, Jennifer Lynch (que fez uma cena no filme que acabou sendo cortada), então com quatro anos, nascera com graves problemas nos pés e passara por diversas cirurgias. Mas o maior mistério de Eraserhead refere-se à construção do “bebê”. Quando indagado sobre ele, Lynch costumava dizer que “ele tinha nascido nas redondezas”.

29.11.2016
O CAVALO DE TURIM (2011)
[A torinói ió]
de Béla Tarr e Agnes Hranitzky
com János Derzsi, Erika Bók, Mihály Kormos
146 minutos
Cineclube continua a série de suspenses cinzentos, apresentando O cavalo de Turim, último filme do diretor húngaro Béla Tarr. Dotado de um rigor estético fascinante, o filme mostra seis dias derradeiros na vida do velho Ohlsdorfer, sua filha e seu cavalo. Em sequências milimetricamente estudadas, Tarr constrói uma narrativa densa e apocalíptica com pretos, cinzas e brancos assombrosos. O filme é uma fábula do final dos tempos, na qual personagens mudos e taciturnos repetem suas tarefas cotidianas, num mundo de tempos lentos e lugares vazios. A catástrofe não é antecipada com terror, como em Melancolia de Lars von Trier ou O abrigo de Jeff Nichols. Na versão de Tarr, o abismo já devolveu nosso olhar, e a tarefa do diretor é mais a de registrar isso do que a de profetizar alguma mudança. Béla Tarr começou a fazer filmes aos 16 anos, chamando a atenção do Béla Balázs Studios, que ajudou a produzir seu primeiro longa. Em 2011, anunciou sua aposentadoria definitiva como diretor, passando a dedicar seu tempo à docência. Em 2013, fundou a Academia de Cinema de Sarajevo, conhecida como film.factory. O cavalo de Turim estreou internacionalmente no Festival de Berlim de 2011, onde recebeu o Prêmio Especial do Júri. Apesar de ter tido seu lançamento adiado na Hungria, depois de uma entrevista em que Béla Tarr criticou o governo local, foi indicado para representar o país no Oscar de 2012 (não tendo sido nomeado).
Na última sessão, assistimos a Eraserhead, um suspense bizarro, entre o surrealismo e o terror. Primeiro longa de David Lynch, o filme foi construído meticulosamente com um desenho de som impecável. Hoje vamos assistir O cavalo de Turim, nono longa-metragem do diretor húngaro Béla Tarr. Assim como Eraserhead, o filme é um suspense fora do comum, construído meticulosamente, com um desenho de som impecável e situado num tempo e lugar indefinidos. Inspirado por uma anedota envolvendo Friedrich Nietzsche, O cavalo de Turim apresenta uma narrativa lenta e solene que demonstra o comprometimento intransigente e atávico de Tarr com uma imagem pictórica sublime e extremamente lapidada. Na abertura do filme, um narrador conta que o filósofo Friedrich Nietzsche, após ver um cavalo ser chicoteado pelo dono, em Turim, abraça o animal aos prantos. Esse episódio teria sido o estopim do ataque nervoso do qual o filósofo nunca se recuperou. A partir daí, Tarr deixa a câmera fluir lentamente em 30 longos planos que registram o cotidiano modorrento (e assustador) de dois personagens. Os diálogos são substituídos por uma trilha sonora melancólica e repetitiva, composta por Mihály Vig, que traduz precisamente a realidade dos protagonistas.
O cavalo de Turim transforma em imagens e sons o Eterno Retorno de Nietzsche, com convenções, estrutura e organização dramática que remetem diretamente ao cinema de horror. A meticulosa construção de atmosfera faz com que uma breve conversa à mesa se torne um diálogo filosófico, que um poço seco abra uma janela para a finitude, que um rosto à janela se torne uma explosão de fantasmagoria de gelar os ossos.
Após o lançamento do filme, Béla Tarr anunciou que este seria seu último trabalho. Com apenas 56 anos, o diretor húngaro declarou que já disse tudo que tinha para dizer e que não queria ficar copiando a si mesmo. O cavalo de Turim dissipa qualquer ceticismo sobre a finalidade da decisão do diretor de abandonar sua vocação, já que é difícil imaginar uma declaração mais completa e sistemática de desespero intelectual. O universo de Tarr é um lugar duro e cruel, indiferente, hostil ao esforço dos seres humanos e outros animais mudos. Os sete dias em que a história se passa representa um tipo de Gênesis em reverso, um relato não da destruição apocalíptica do mundo, mas sim de sua de-criação passo-a-passo. Um paradigma Becketiano da situação mundial (explicitada pela vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas), com um personagem à la Bartleby (o cavalo que se recusa a fazer o que se espera dele).
Em A gaia ciência, Friedrich Nietzsche diz: “E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse: ‘Esta vida, assim como tu a vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes; e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande em tua vida há de retornar, e tudo na mesma ordem e sequência - e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez - e tu com ela, poeirinha da poeira!’ Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasse assim?” (NIETZCHE, A gaia ciência, São Paulo, Companhia das Letras, 2001, §341).

06.12.2016
O ANO PASSADO EM MARIENBAD (1961)
[L’Année dernière à Marienbad]
de Alain Resnais
com Giorgio Albertazzi, Delphine Seyrig, Sacha Pitöeff
94 minutos.
Cineclube finaliza série de filmes na zona cinzenta, apresentando O ano passado em Marienbad, dirigido por Alain Resnais, a partir de um roteiro de Alain Robbe-Grillet. Um homem, denominado X, tenta a todo custo fazer uma mulher, intitulada A e casada com um homem chamado M, lembrar-se do romance que tiveram no ano passado. Tudo se passa numa festa sem fim, num palacete aristocrático de algum lugar indeterminado. As personagens repletas de cultura e civilização são gélidas e vazias, e a verdade parece desaparecer num mundo reluzente de superfícies e perspectivas enganosas. Quem são X, A e M? O que é verdade? O que é mentira? O que aconteceu no passado? O que está acontecendo no presente? Alain Resnais começou a estudar teatro durante a II Guerra Mundial e, em 1943, ingressou na recém criada escola de cinema IDHEC. Em 1945, foi para a Alemanha junto com as forças aliadas. Seu primeiro longa-metragem, Hiroshima mon amour, 1959, foi realizado em colaboração com a escritora Marguerite Duras e mistura ficção com documentação, tratando da impossibilidade de falar sobre a tragédia de Hiroshima por meio da revelação dessa impossibilidade. Seu segundo filme, O ano passado em Marienbad, também trata da impossibilidade do discurso, causando polêmica na época de seu lançamento, devido à sua abordagem incomum e sua narrativa ambígua. Em 1961, o filme recebeu o Leão de Ouro no Festival de Veneza e, em 1962, o Prêmio de Melhor Filme do Sindicato Francês de Crítica de Cinema. O filme foi indicado para representar a França no Oscar como Melhor Filme em Língua Estrangeira, mas sua nomeação não foi aceita. Também foi recusado no Festival de Cannes devido ao fato de Resnais ter acabado de assinar o Manifesto dos 121, de Jean-Paul Sartre, contra a Guerra da Argélia.
Na última sessão, assistimos a O cavalo de Turim, do diretor húngaro Béla Tarr, um suspense fora do comum, situado num lugar e num tempo indefinidos. Hoje vamos assistir a O ano passado em Marienbad, do diretor francês Alain Resnais, que também se passa num lugar e tempo indefinidos. Mas, enquanto O cavalo de Turim mostra o final do tempo cíclico como uma espécie de Gênesis ao reverso, O ano passado em Marienbad apresenta um tempo em espiral, onde passado, presente e futuro coincidem e não coincidem ao mesmo tempo. A narrativa é construída hipnoticamente como um quebra-cabeça de beleza austera, gélida e vertiginosa. Numa espécie de limbo aristocrático, fatos se misturam com memórias e sonhos, provocando uma desorganização dos sentidos tanto dos personagens quanto dos espectadores.
A ambiguidade da narrativa é potencializada pelas imagens simétricas e espelhadas, pela perspectiva e pelo trompe-l’oeil. A câmera desliza por esses espaços num tempo extemporâneo. Os protagonistas são fantasmas com sentimentos e os coadjuvantes parecem estátuas em poses artificiais. Resnais queria que o filme reproduzisse o clima dos filmes mudos. Para isso, baseou os figurinos em fotografias de moda dos anos 1920. Quase todos os vestidos da protagonista foram desenhadas por Chanel e sua aparência e os modos foram inspirados nos de Louise Brooks em A caixa de Pandora, de 1929 (apesar de o cabelo de Seyrig estar curto demais para fazer um penteado semelhante ao de Brooks).
O roteiro é de Alain Robbe-Grillet, um dos maiores representantes do Nouveau Roman francês (que reivindica o esvaziamento ideológico da trama e do personagem; a simplificação, a recorrência e a recursividade do estilo discursivo), herdando algumas características do movimento: planificação dos personagens, repetição de falas como recorrência de um leitmotif, descrição metódica e detalhista de cenários e eventos. Robbe-Grillet preparou um roteiro minucioso tanto no que se refere à atuação dos atores quanto à filmagem e à montagem. Resnais foi o mais fiel possível às demandas de Robbe-Grillet, descrevendo o resultado como “uma tentativa, ainda muito grosseira e primitiva, de aproximar a complexidade do pensamento de seu mecanismo”.
O ano passado em Marienbad foi realizado durante dez semanas, entre setembro e novembro de 1960. Nenhuma cena foi filmada em Marienbad, cidade famosa por seu spa, na atual República Tcheca. As locações se dividiram entre alguns castelos na Alemanha e os estúdios Photosonore-Marignan-Simo, em Paris. Alguns críticos acusaram o filme de um “esteticismo acadêmico e vazio”, retrato do esnobismo típico dos anos 1960, criticando a posição alienada de Resnais comparativamente a seu filme anterior Hiroshima mon amour. Mas sabemos que esse limbo aristocrático com personagens fantasmagóricos, onde a mentira e a verdade e o próprio tempo se sobrepõem continuamente é uma história recorrente. Além disso, histórias com final feliz são para crianças, na verdade, as histórias continuam se desdobrando, se repetindo e se contradizendo indefinidamente.
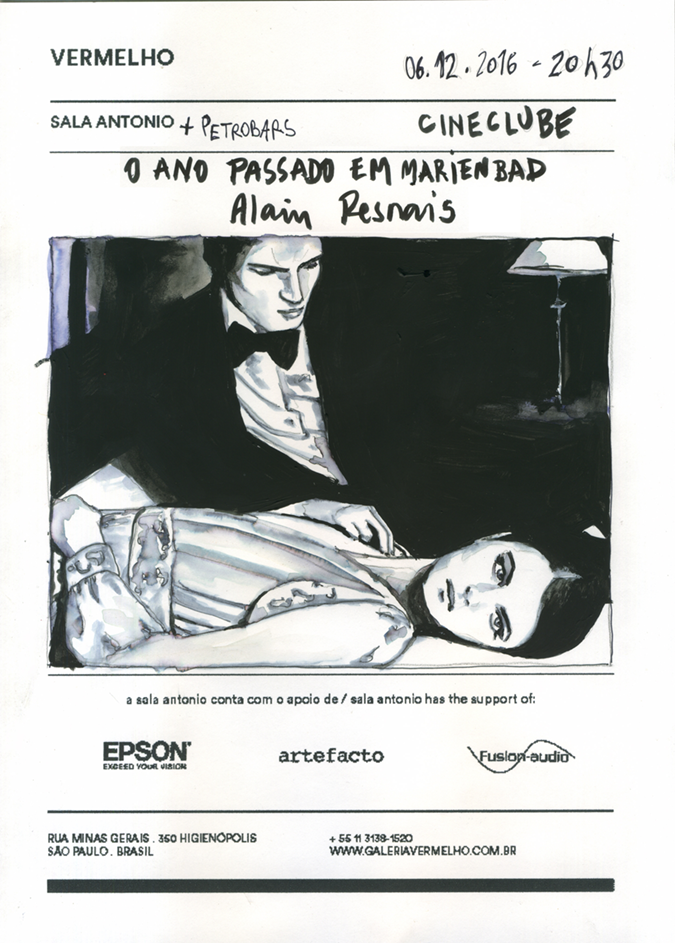
24.10.2017
FRANKENSTEIN DE ANDY WARHOL (1973)
[Flesh for Frankenstein]
de Paul Morrissey
com Udo Kier, Joe Dalessandro, Monique van Vooren, Arno Juering
95 minutos.
Depois de um longo intervalo, Cineclube volta à ativa, agora com a colaboração do grupo de pesquisa DEPOIS DO FIM DA ARTE, não apenas na produção dos filmes-comentários e do bar – antes denominado Petrobars e agora Odebreja – mas também na seleção e na apresentação dos filmes do Cineclube.
Dando início a um ciclo de filmes em torno da diversidade, complexidade, ou mesmo, bizarrice sexual, vamos passar Frankenstein de Andy Warhol – que é na realidade de Paul Morrissey – lançado em 1973, num processo 3-D chamado Spacevision. O filme narra a história do Barão Frankenstein, obcecado em criar uma nova raça de seres híbridos que seriam a salvação da humanidade. Em busca dos segredos da imortalidade, Frankenstein reúne pedaços de diversos corpos humanos para criar o casal perfeito que geraria uma raça de seres superiores. A história básica do livro de Mary Shelley é reformulada como uma crítica ao modo de vida de uma aristocracia decadente, num paralelo entre o projeto do Barão e a ideologia nazista. Tudo isso regado a muito sangue e apimentado com cenas de incesto, necrofilia e ninfomania. Paul Morrissey conheceu Andy Warhol em 1965 e, a partir de então, dirigiu e distribuiu todos os filmes produzidos na Factory, entre eles, My Hustler (1965), Chelsea Girls (1966) e Bike Boy (1967). Em 1968, Morrissey escreveu, dirigiu e produziu Lonesome Cowboys e, desde então, assumiu o controle total dos filmes apresentados por Warhol. Em 1975, a parceria entre os dois teve fim e Morrissey teve que correr atrás de financiamento para seus filmes, mantendo-se até hoje um dos únicos diretores americanos independente de qualquer produtora hollywoodiana, mesmo as “alternativas”. Frankenstein de Andy Warhol foi filmado na primavera de 1973, na mesma época e praticamente com a mesma equipe de Drácula de Andy Warhol, nos estúdios da Cinecittà e em locações na Itália. Teve várias cenas cortadas para conseguir, mesmo com uma classificação restritiva, ser exibido nas salas de cinema.
No contexto atual, em que o corpo masculino é considerado pornográfico, que exposições estão recebendo classificação restritiva e que mostras de filmes estão sendo censuradas pelas salas de cinema, Frankenstein de Andy Warhol explicita o rumo conservador que o mundo tomou nas últimas décadas. O título original do filme é Flesh for Frankenstein [Carne para Frankenstein] devido a uma sugestão de Andy Warhol que substituiu o Meat do roteiro original por Flesh. Foi filmado de maneira rápida e barata, ao mesmo tempo que Drácula de Andy Warhol cujo título original é Blood for Dracula [Sangue para Drácula], com as mesmas locações e os mesmos atores, para que, em última instância, os dois filmes pudessem passar juntos em uma sessão dupla num cinema sórdido.
Os efeitos especiais do filme foram produzidos por Carlo Rambaldi, que depois ganhou 3 Oscars por seu trabalho em King Kong (1976), E.T. – O Extraterrestre (1982) e Alien (1979). O roteiro de Frankenstein de Andy Warhol foi adaptado (assim como todos os filmes sobre Frankenstein são inevitavelmente) na novela de terror gótico de Mary Shelley, Frankenstein ou o Prometeu moderno, escrita em 1818. O italiano Tonino Guerra – roteirista de Blow-Up (1966) de Michelangelo Antonioni e Amarcord (1973) de Federico Fellini, entre outros, – fez o roteiro junto com Morrissey, apesar de não ter sido creditado. Se o livro de Shelley foi escrito como uma alegoria sobre os males da ciência moderna e os perigos da arrogância da humanidade, Frankenstein de Andy Warhol, apresenta o Barão Frankenstein – interpretado pelo ator alemão Udo Kier – como uma caricatura de Hitler, um maníaco obcecado por criar uma "raça superior". A relação entre o Barão e Hitler – presente no penteado e no forte sotaque alemão de Kier – é acentuada pela trilha sonora já que toda vez que Frankenstein se empolga com seu projeto, Tannhauser de Wagner toca ao fundo.
Frankenstein também é uma boa imagem para o projeto do grupo DEPOIS DO FIM DA ARTE que inaugura hoje: uma web-série feita com base no método surrealista chamado de cadavre exquis. O método consiste em montar coletivamente uma coleção de palavras ou imagens de maneira que cada colaborador acrescente algo a uma composição em sequência, seguindo uma determinada regra. Na web-serie a equipe deve se alternar a cada episódio, cada um realizando uma função diferente a cada vez. Os episódios vão estrear mensalmente nas sessões do Cineclube antes de ser disponibilizados na rede.

21.11.2017
POSSESSÃO (1981)
[Possession]
de Andrzej Zulawski
com Isabelle Adjani, Sam Neill, Margit Carstensen
127 minutos
Dando continuidade ao ciclo de filmes em torno da diversidade, complexidade ou mesmo bizarrice sexual, Cineclube apresenta Possessão, escrito e dirigido por Andrzej Zulawski. O filme se passa numa Berlin dividida, cinzenta, deserta, opressora e oprimida. Mark e Anna, um casal de classe média com um filho pequeno, passam por uma separação tumultuada, experimentando um turbilhão de emoções e desejos que os levam a ignorar normas sociais e vivenciar a sexualidade como um excesso irracional. O fim da relação entre Mark e Anna dá início a uma sequência de colapsos catastróficos que inclui o desmantelamento da ordem social em que vivem e a desconstrução da própria lógica narrativa do filme. A câmera perambula vertiginosamente pelo cenário, intensificando a sensação de imprevisibilidade e loucura em que os personagens estão imersos. A fotografia impecável e a interpretação sublime de Adjani – que recebeu o prêmio de melhor atriz em Cannes por sua performance – se somam à narrativa vertiginosa para fazer de Possessão uma obra prima. O diretor Andrzej Zulawski nasceu em Lvov, Polônia, quando esta ainda fazia parte da União Soviética, estudou cinema na França e, nos anos 1960, foi assistente de Andrzej Wajda.
Possessão, único filme falado em inglês de Zulawski, teve um lançamento controverso. No Brasil, o filme recebeu o Prêmio da Crítica na 5a Mostra de Cinema de São Paulo, em 1981. Nos EUA, teve 45 minutos cortados para poder passar nas salas de cinema, na Inglaterra ficou censurado até 1999 e, na Alemanha, onde foi filmado, só foi lançado em DVD, em 2009. Os efeitos especiais são de Carlo Rambaldi, responsável pelos efeitos do filme de nossa última sessão, Frankenstein de Andy Warhol, e que recebeu o Oscar por seu trabalho em King Kong (1976), Alien (1979) e E.T. – O Extraterrestre (1982).

27.03.2018
SALÒ OU OS 120 DIAS DE SODOMA (1975)
[Salò o Le 120 Giornate di Sodoma]
de Pier Paolo Pasolini
com Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi, Umberto Paolo Quintavalle
117 minutos
Retomando o ciclo de filmes em torno da diversidade e complexidade sexual, Cineclube apresenta na próxima terça-feira, 27 de março, Salò ou os 120 dias de Sodoma, dirigido por Pier Paolo Pasolini. No filme, quatro representantes do Poder – o Duque, o Bispo, o Magistrado e o Presidente – sequestram um grupo de adolescentes, submetendo-os a seus desejos perversos, que consistem em estupro, tortura, coprofagia, mutilação e assassinato. Os corpos dos jovens são tratados como coisas, objetos ou mercadorias à disposição de seus donos autoritários e arbitrários. Salò ou os 120 dias de Sodoma é baseado na trama do livro Os 120 dias de Sodoma ou a Escola da Libertinagem (1785) do Marquês de Sade, transferida da França pré-revolução para a Itália fascista. A narrativa se estrutura num esquema de quatro partes, relacionando a obra de Sade à Divina Comédia (1304-1321) de Dante Alighieri, com uma espécie de prólogo (o ante inferno) e três círculos (infernais): o das manias, o da merda e o do sangue. O título do filme de Pasolini incorpora ao do livro de Sade a referência à cidade de Salò que foi sede da República Social Italiana, entre 1943 e 1945, incorporando à trama mais duas camadas temporais. Essa sobreposição de temporalidades explicita, tanto analógica quanto metaforicamente, a relação de Pasolini com a sociedade contemporânea (de 1975, ano em que o filme foi feito), desigual, consumista e violenta. Pasolini estudou na Escola de Literatura da Universidade de Bologna no começo da década de 1940. Com ampla formação humanista e marxista, foi, além de cineasta, importante poeta e escritor, publicando uma série de textos sobre arte, literatura, cinema, semiótica, linguística, moda e politica. Salò ou os 120 dias de Sodoma, seu último filme, foi lançado três semanas após seu assassinato brutal, numa emboscada na praia de Óstia. No Brasil, o filme estreou na 5a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 1981, sendo ovacionado tanto pela crítica quanto pelo público.
--------------------
Saló, município italiano da região da Lombardia, província de Bréscia, é uma pequena cidade de pouco mais de 10 mil habitantes. Saló foi a cidade escolhida pelo ditador Benito Mussolini para servir de capital do estado-fantoche do governo Nazista entre 1943 e 1945, chamado de República Social Italiana ou República de Saló. Apesar de a capital oficial do governo fascista de Mussolini ter sido Roma, nos últimos dias de seu governo e ao fim da segunda guerra mundial, sob ocupação de Hitler, este e seu Ministro de Relações Internacionais se isolaram na cidade. “Crer, obedecer e combater” era um dos lemas pedagógicos utilizados pelos fascistas para doutrinar a sociedade italiana. Crer, obedecer e combater no e em nome do Estado. Mussolini governou a Itália de 1922 a 1943, sendo que a partir de 1925 o seu poder perdeu a legitimidade e foi imposto como uma ditadura. No estado-fantoche cuja capital era Salò, Mussolini continuou a governar até o ano de sua morte, 1945.
Salò é também o nome escolhido para o filme de Pier Paolo Pasolini, diretor, poeta, escritor, homossexual e ativista socialista italiano. Seu subtítulo é Os 120 dias de Sodoma, livro do francês Marquês de Sade escrito pouco tempo antes da Revolução Francesa. O filme, seguindo a trama do livro, coloca em cena quatro figuras do poder: um juiz, um duque, um bispo e um presidente (no livro uma das figuras é um burguês financista infiltrado no esquema de poder do Estado). Como no livro, estes homens oferecem uns aos outros suas filhas para que estas sejam abusadas pelos companheiros de poder; além de suas filhas, 18 jovens de sexos diferentes são sequestrados e levados a um castelo em Saló para servir aos seus desejos violentos. Como indica Pasolini em 1975: “Criaturas fracas e arrebanhadas, destinadas par ao nosso prazer. Não esperem encontrar aqui a liberdade que lhes é garantida do mundo exterior. Vocês estão aqui para além do alcance de qualquer justiça ou legalidade. Ninguém sabe que vocês estão aqui. No que pode tocar o conhecimento do mundo, vocês já estão mortas e mortos.” Além disso, o filme reproduz vagamente os Círculos do Inferno da Divina Comédia de Dante, que vão se aprofundando e se tornando mais violentos com o desenrolar do filme.
Crítica violenta e gráfica aos estados ditatoriais implantado na Europa por Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Franco na Espanha, Stálin na União Soviética, Salò ou os 120 dias de Sodoma é também um triste anúncio dos movimentos políticos guiados pela necropolítica, neologismo criado pelo filósofo sul-africano Achille Mbembe em uma resposta contemporânea à biopolítica de Michel Foucault: aqui, o estado não só se apropria dos corpos e de seus sujeitos para conduzir as suas vidas de acordo com seu ímpeto produtivo, econômico e político, mas também é o soberano que decide aqueles que poderão sobreviver ou que são destinados à morte. Salò ou os 120 dias de Sodoma foi dirigido e filmado pelo próprio punho e olhar de Pasolini, com uma equipe e orçamentos limitados, sobretudo devido ao seu conteúdo violento e polêmico.
Pier Paolo Pasolini, nascido em Bolonha no mês de março, dia 05, foi assassinado brutalmente na praia de Óstia em 2 de novembro de 1975, antes da estreia de Salò ou os 120 dias de Sodoma, seu último filme que faz parte de uma trilogia crítica em que Pasolini coloca de forma clara a sua visão política e social sobre o fascismo, a burguesia, o Marxismo e o ateísmo (Pasolini era ateu e marxista, apesar de não ter poupado críticas aos desdobramentos do comunismo na União Soviética). Além deste, os outros filmes da trilogia são Teorema (1968), em que uma família normativa burguesa têm suas vidas dilaceradas pela presença de um jovem misterioso que seduz um a um seus membros; e Pocilga (de 1969), em que duas histórias dramáticas se cruzam, uma de um jovem canibal que come e devora o seu próprio pai e é condenado a ser despedaçado por animais selvagens e a outra de um jovem filho de uma família burguesa industrial alemã que se prepara para se deitar e consumar uma noite de amor com os porcos de sua fazenda, pois abomina as relações humanas. Não me parece necessário afirmar as possibilidades de interpretação política e psicológica que estes três filmes propõem: elas são bem claras.
O assassinato de Pasolini foi um crime político cometido por um dito garoto de programa, Pelosi, que foi preso em 1976, mas cujo pano de fundo político permaneceu em silêncio por mais de quarenta anos. Pelosi, depois de se recusar a manter relações sexuais com Pasolini, o assassinou com pauladas, jogou o corpo do diretor , pensador e poeta na praia e passou com seu carro sobre a sua cabeça, desfigurando-o até que este se tornasse irreconhecível.
Este é um dos filmes essenciais (assim como o livro de Sade) para se entender as visões de poder e liberdade da era moderna e foi responsável por redefinir minha visão sobre as relações de poder na sociedade. Salò ou os 120 dias de Sodoma é violento e perturbador, mas não mais que a realidade que ainda perdura na nossa sociedade e nela volta a ganhar tanta força.
Maurício Ianês
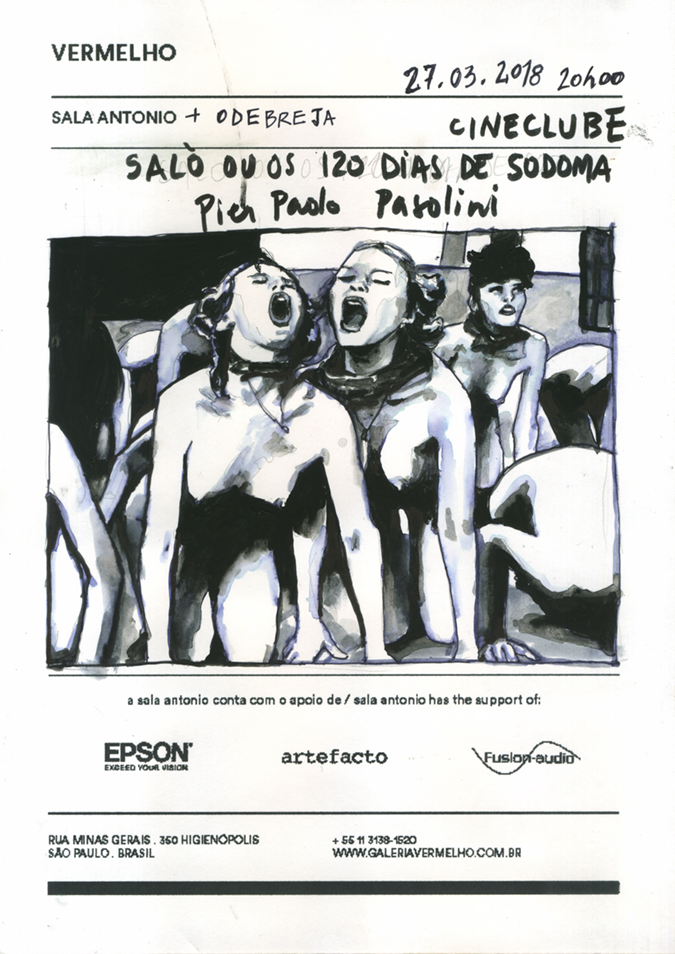
29.05.2018
PROBLEMAS FEMININOS (1974)
[Female Trouble]
de John Waters
com Divine, David Lochary, Mary Vivian Pearce, Mink Stole
97 minutos
Para dar continuidade à discussão sobre as múltiplas visões da sexualidade através do cinema, decidimos passar o clássico Problemas Femininos, na sessão da próxima terça-feira, 29 de maio. Dirigido por John Waters, o filme trata de algumas das questões presentes em Saló ou os 120 dias de Sodoma de Pier Paolo Pasolini, exibido na última sessão do Cineclube. Assim como Pasolini em Saló, Waters mostra em diversos de seus filmes cenas escatológicas e práticas sexuais “não-convencionais”. Porém, em Problemas femininos esses temas são tratados com humor negro e ironia crítica em relação à sociedade conservadora dos Estados Unidos da década de 1970. Neste tributo aos melodramas sobre delinquência juvenil, Waters amplia a gama dos chamados “problemas femininos” tanto em relação aos substantivo “problemas” quanto em relação ao adjetivo “feminino”, inspirando a filósofa Judith Butler no título de seu best-seller Problemas de gênero. A mocinha da história é Divine, musa do diretor e ícone cult. Ela interpreta a adolescente que foge da casa para uma vida de prazeres libertinos, porque não ganhou determinado presente no Natal. Na fuga, ela é violentada por um motorista “malvado” (que também é interpretado por Divine). John Waters começou a fazer filmes em meados dos anos 1960 e chegou a estudar cinema na Universidade de Nova Iorque, de onde foi expulso ao ser pego fumando maconha no campus. Para produzir seus filmes sem depender da indústria cinematográfica hollywoodiana, Waters criou a Dreamland, um tipo de produtora independente formada por artistas e amigos com os quais ele ainda trabalha (os que ainda estão vivos). Problemas femininos – quarto longa metragem do diretor – foi filmado em 16mm, em Baltimore, cidade natal de Waters, com um elenco formado por seus fieis Dreamlanders. É considerado pelo diretor sua melhor colaboração com Divine, apresentando um rol de prazeres perversos ao som do mantra “crime é beleza”.
--------------------
Para produzir seus filmes com autonomia da também conservadora indústria cinematográfica, John Waters criou o seu próprio reduto de artistas e amigos com os quais sempre trabalhou. Chamou essa pequena sociedade de Dreamland, que se tornou uma espécie de Hollywood ultra-underground. E invariavelmente, o diretor trabalha com esses mesmos atores e equipe (os que sobreviveram) de seus primeiros filmes até os mais recentes.
A drag-queen Divine (Harris GlennMilstead) estrelou alguns dos filmes mais importantes de John Waters. Em Problemas Femininos, Divine interpreta a protagonista Dawn Davenport e o antagonista Earl Peterson. Portanto, a cena de estupro entre essas personagens que há no filme, é inteiramente interpretada por Divine, sugerindo uma relação em que o violentador e o violentado são a mesma pessoa e que no sexo esses papeis performativos podem ser intercambiáveis.
A atriz e escritora Cookie Mueller, que atua em Problemas Femininos, foi uma amiga próxima da fotógrafa Nan Goldin, que retratou os estágios da doença da atriz, vítima da AIDS. Nan Goldin fotografou Cookie no hospital e o seu velório em 1989.
Edith Massey, outra artista da Dreamland muito presente nos filmes de Waters, interpreta a personagem Tia Ida, que traz para o filme falas críticas à heteronormatividade, no momento em que chora desesperadamente quando descobre que o seu sobrinho não é gay. John Waters virou referência para a comunidade LGBT justamente por trazer a tona o caráter convencional e entediante que há na heterossexualidade, algo que não encaixa em sua estética punk e questionadora.
Felipe Salem

26.06.2018
ZIDANE, UM RETRATO DO SÉCULO XXI (2006)
[Zidane, un portrait du 21e siècle]
de Douglas Gordon e Philippe Parreno
com Zinédine Zidane
91 minutos

Em mês de Copa do Mundo, Cineclube apresenta na próxima terça, 26, Zidane, um retrato do século XXI, dos artistas Douglas Gordon (1966) e Philippe Parreno (1964). O filme apresenta um retrato da estrela do futebol francês, Zinédine Zidane, capturado por 17 câmeras sincronizadas, durante um partida entre Villareal e Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, no dia 23 de abril de 2005. Na época, Zidane, que ficou internacionalmente famoso por cabecear o jogador italiano Materazzi, durante a final da Copa do Mundo em 2006, jogava como meio de campo no Real Madrid, junto com Ronaldo, Roberto Carlos e David Beckham, entre outros. O filme subverte a lógica das transmissões de partidas de futebol, apresentando um estudo detalhado de um único integrante do jogo. Zidane, um retrato do século XXI é uma celebração do corpo em movimento e um reconhecimento do prazer que vem da observação desse corpo. Gordon e Parreno propõem o retrato cinematográfico de Zidane como uma atualização do gênero, indicando influências da tradição histórica, de Goya a Warhol. Entretanto, a referência mais explícita – e não creditada – é o filme Futebol como nunca antes (1971), do cineasta alemão Hellmuth Costard, que mostra o jogador George Best, filmado por 8 câmeras de 16mm durante uma partida do Manchester United, no estádio Old Trafford, em 1970. Tanto Gordon quanto Parreno utilizam o cinema, como matéria ou referência, em seu trabalho de arte. Gordon “desacelerou” o filme Psicose, de Alfred Hicthcock, para a velocidade de 2 frames por segundo, em seu trabalho 24 Hours Psycho, enquanto Parreno, em No More Reality, mistura trechos de Gremlins com Twin Peaks. A direção de fotografia de Zidane, um retrato do século XXI é de Darius Khondji – de Amour (2012), Seven (1995) e Delicatessen (1991) – e a trilha sonora da banda escocesa Mogwai. O filme estreou no Festival de Cannes em 2006, logo passando a fazer parte do acervo de diversas instituições de arte, entre elas, o Museu de Arte Contemporânea de Castilla y León – MUSAC, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque – MoMA e o Museu Guggenheim de Nova Iorque.
Zidane, um retrato do século XXI foi filmado com 17 câmeras de super 35mm e vídeo digital HD e finalizado em 35mm. Nos museus ele é apresentado em loop, em duas projeções sincronizadas, uma com o filme que vamos assistir e outra com o material bruto de uma das câmeras, desvelando o momento escolhido para a edição final quando as imagens coincidem. Douglas Gordon, que está apresentando uma vídeo instalação no Instituto Moreira Salles, é irlandês e Philippe Parreno é algeriano, assim como Zidane (que tem dupla nacionalidade), o personagem principal do filme.
Em 1998, a França vitoriosa na copa do Mundo, de azul, branca e vermelha se tornou negra, branca e árabe, proclamando uma identidade coletiva inclusiva, porém pouco problematizada. A seleção nacional provava que um país fortalecido por braços mestiços era possível, apesar da declaração que Jean-Marie le Pen, líder do partido conservador Frente Nacional, fez em 1996, contra o recrutamento de jogadores estrangeiros que não cantavam ou pareciam não saber a letra da La Marseillaise, hino nacional francês. Os jogadores algerianos se recusavam a cantar o hino, por causa de trecho violentamente preconceituoso que diz: "Às armas, cidadãos / formai vossos batalhões / marchemos, marchemos! / Que um sangue impuro / banhe o nosso solo". À sombra da euforia pela conquista, Charles Pasqua, defensor de políticas de imigração, exigiu a regularização de imigrantes ilegais. Era o esporte influenciando diretamente a política nacional. Os anos que sucederam a conquista do mundial foram de igual sucesso para os franceses, que excursionavam pelo mundo realizando amistosos e obtinham êxito nas competições que disputavam. Os holofotes estavam tão voltados aos Les Bleus que em outubro daquele ano os jogadores da seleção foram recebidos em Joanesburgo por Nelson Mandela, um privilégio reservado normalmente a autoridades e chefes e de Estado. O mito negro-branco-árabe era motivo de orgulho social, porém como comentou Lilian Thuram, um dos mais engajados do grupo de jogadores, “A boa fase nos impediu de questionar a sociedade. Foi como um jogo de espelhos”. Em 2001, no primeiro amistoso entre França e Argélia a diplomacia terminou antes mesmo do juiz apitar o início do confronto com a vaia contundente à Marseillaise e a Zidane, que jogava pela França e cujos pais são argelinos.
Zidane, um retrato do século XXI mostra o herói franco-algeriano do futebol francês em diversos planos – de close-ups a panorâmicas –apresentando Zidane como um predador, que fareja e prepara o bote, (mesmo que ele passe muito tempo esperando e andando). A tensão presente no olhar e na movimentação do jogador é acentuada pelo fato de que o ponto de vista permanece tão fixo no corpo dele - seus pés inquietos, panturrilhas esculpidas e cabeça raspada – que não se vê o que está acontecendo na partida como um todo. Isso faz com que ele não seja apenas o objeto da atenção do espectador, mas também um tipo de espelho: o jogo é percebido através de suas expressões, seu rosto imóvel, seu nariz pontudo e seus olhos oblíquos que realçam seu aspecto de predador.
Já que estávamos apresentando nas últimas sessões do cineclube uma série de filmes sobre sexualidade, vale a pena notar que os cineastas evitam a virilha e a retaguarda do atleta, o que sugere que, enquanto Zidane é um objeto de desejo (tanto como atleta, quanto celebridade), esse desejo foi cuidadosamente circunscrito. Enquanto sujeito, o retratado mostra-se perversamente opaco, por meio de trechos de depoimentos que pontuam o filme, fragmentos de memórias do jogador.
Também é importante lembrar que essa mesma obra foi feita décadas atrás pelo cineasta alemão Hellmuth Costard. Filmado com apenas sete câmeras de 16mm, Futebol como nunca antes, apresentou exatamente o mesmo tipo de retrato do astro do Manchester United, George Best. Os meios de Costard eram necessariamente mais low-tech e o diretor favorece as jogadas de meio de campo que davam mais espaço para Best fazer seu show. O resultado é um pouco diferente. Costard mostra um craque jogando futebol; Gordon e Parreno apresentam um ícone.
02.10.2018
MENTE PARANÓICA (1997)
[Office Killer]
de Cindy Sherman
com Carol Kane, Molly Ringwald, Jeanne Tripplehorn
95 minutos
Após longas férias, Cineclube retorna com uma série de filmes de longa metragem feitos por artistas plásticos. Na próxima terça-feira, 2 de outubro, às 20h, Mente paranóica, da artista norte-americana Cindy Sherman (1954) inicia a mostra. Filmado no final da década de 90, o enredo apresenta a história de Doreen (Carol Kane), uma revisora que trabalha em uma revista de moda. A empresa está cortando custos por meio da demissão e da redução de carga horária de seus funcionários, facilitada pela chegada de computadores que possibilitam o trabalho à distância. Doreen está entre os empregados “convidados” a trabalhar meio período a partir de casa, onde ela passa a dividir seu tempo entre o computador e a mãe paraplégica e dependente. Uma fotografia refinada e citações explícitas a Hitchcock misturam-se com humor e terror gore, num filme dominado por personagens femininas. As atrizes que protagonizam o filme vinham aparecendo em comédias românticas adolescentes desde o final da década de 80: Molly Ringwald atuou em Gatinhas e gatões e em A garota de rosa-shocking, Jeanne Tripplehorn fez The Night We Never Met e Até que eu te encontre e Barbara Sukowa atuou no filme de Robert Longo de 1995 Johnny Mnemonic – O cyborg do futuro.
O trabalho fotográfico de Cindy Sherman nessa época sofria uma transformação, à medida em que ela se retirava como modelo de suas imagens e começava a introduzir partes de manequins, máscaras e bonecos, criando uma atmosfera gore. É o caso da série Sex Pictures na qual ela usava membros protéticos em cenas eróticas e da série Disasters, primeiro trabalho no qual a artista não aparece como “objeto” em suas fotografias.
Sherman estudou artes visuais na Buffallo State College, fazendo parte de uma geração de artistas mulheres – como Barbara Kruger, Laurie Simmons e Louise Lawler ¬– que utilizava a fotografia como meio e que ficou conhecida como The Pictures Generation. Mente paranóica é produzido na onda de seus colegas artistas plásticos que ensaiavam incursões pelo cinema mainstream. Em 1995, Robert Longo – amigo de Sherman desde a faculdade – dirige Johnny Mnemonic – o Cyborg do Futuro, estrelado por Keanu Reeves, e David Salle – outro contemporâneo da artista – dirige Search and Destroy, produzido por Martin Scorsese. Logo a seguir, em 1996, Julian Schnabel dirige o bem-sucedido Basquiat, filme que marca o início de sua carreira como cineasta.
Antes do longa, vamos assistir ao vídeo-comentário feito para Mentes paranóicas, um episódio da série Oficina do Diabo. Convidamos todos para conversar sobre os filmes, tomando uma cerveja no Odebreja.
![]()
02.10.2018
MENTE PARANÓICA (1997)
[Office Killer]
de Cindy Sherman
com Carol Kane, Molly Ringwald, Jeanne Tripplehorn
95 minutos
Após longas férias, Cineclube retorna com uma série de filmes de longa metragem feitos por artistas plásticos. Na próxima terça-feira, 2 de outubro, às 20h, Mente paranóica, da artista norte-americana Cindy Sherman (1954) inicia a mostra. Filmado no final da década de 90, o enredo apresenta a história de Doreen (Carol Kane), uma revisora que trabalha em uma revista de moda. A empresa está cortando custos por meio da demissão e da redução de carga horária de seus funcionários, facilitada pela chegada de computadores que possibilitam o trabalho à distância. Doreen está entre os empregados “convidados” a trabalhar meio período a partir de casa, onde ela passa a dividir seu tempo entre o computador e a mãe paraplégica e dependente. Uma fotografia refinada e citações explícitas a Hitchcock misturam-se com humor e terror gore, num filme dominado por personagens femininas. As atrizes que protagonizam o filme vinham aparecendo em comédias românticas adolescentes desde o final da década de 80: Molly Ringwald atuou em Gatinhas e gatões e em A garota de rosa-shocking, Jeanne Tripplehorn fez The Night We Never Met e Até que eu te encontre e Barbara Sukowa atuou no filme de Robert Longo de 1995 Johnny Mnemonic – O cyborg do futuro.
O trabalho fotográfico de Cindy Sherman nessa época sofria uma transformação, à medida em que ela se retirava como modelo de suas imagens e começava a introduzir partes de manequins, máscaras e bonecos, criando uma atmosfera gore. É o caso da série Sex Pictures na qual ela usava membros protéticos em cenas eróticas e da série Disasters, primeiro trabalho no qual a artista não aparece como “objeto” em suas fotografias.
Sherman estudou artes visuais na Buffallo State College, fazendo parte de uma geração de artistas mulheres – como Barbara Kruger, Laurie Simmons e Louise Lawler ¬– que utilizava a fotografia como meio e que ficou conhecida como The Pictures Generation. Mente paranóica é produzido na onda de seus colegas artistas plásticos que ensaiavam incursões pelo cinema mainstream. Em 1995, Robert Longo – amigo de Sherman desde a faculdade – dirige Johnny Mnemonic – o Cyborg do Futuro, estrelado por Keanu Reeves, e David Salle – outro contemporâneo da artista – dirige Search and Destroy, produzido por Martin Scorsese. Logo a seguir, em 1996, Julian Schnabel dirige o bem-sucedido Basquiat, filme que marca o início de sua carreira como cineasta.
Antes do longa, vamos assistir ao vídeo-comentário feito para Mentes paranóicas, um episódio da série Oficina do Diabo. Convidamos todos para conversar sobre os filmes, tomando uma cerveja no Odebreja.
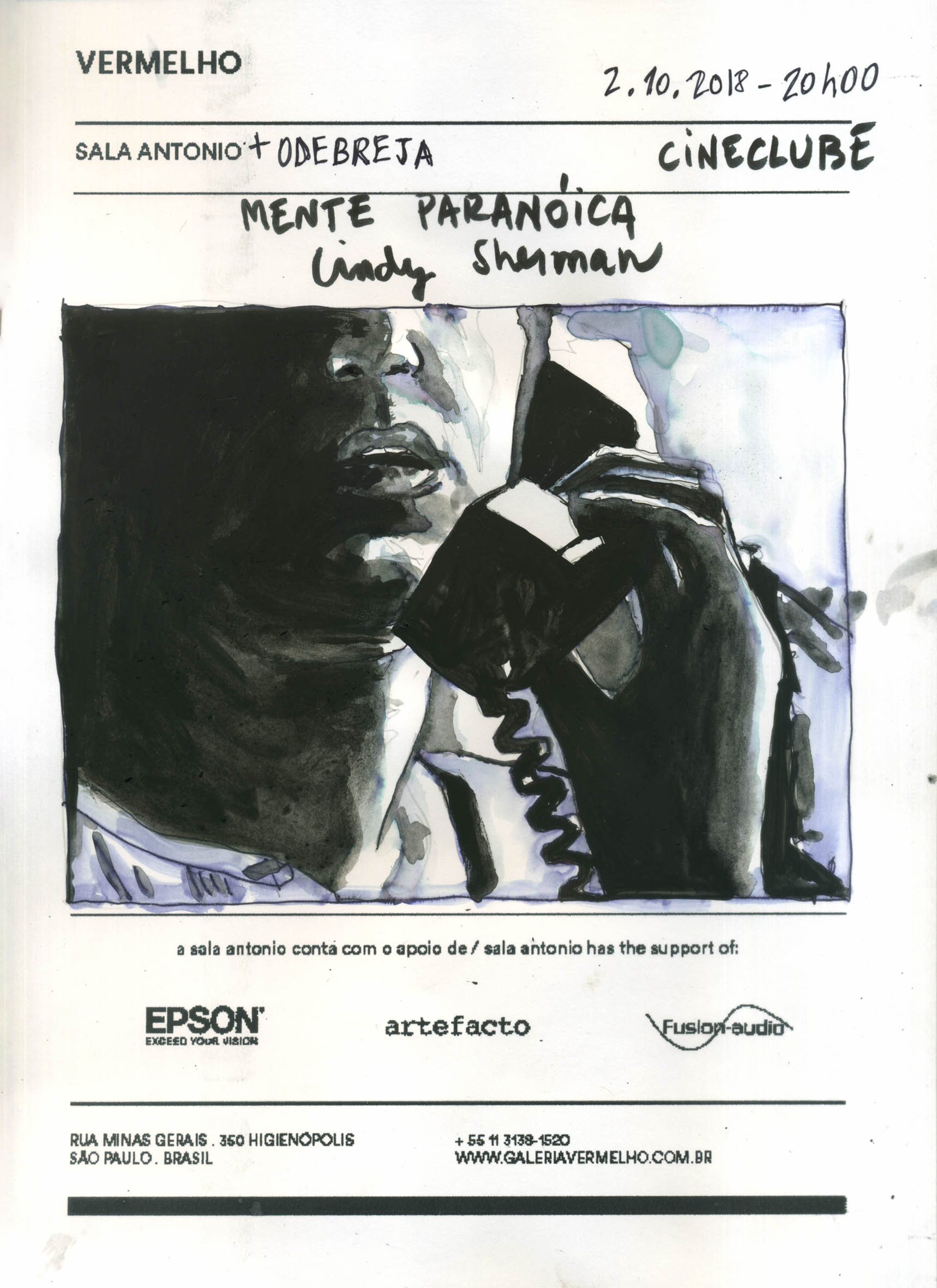
16.10.2018
MANIFESTO (2015)
[Manifesto]
de Julian Rosefeldt
com Cate Blanchett, Erika Bauer, Ruby Bustamante
95 minutos
Continuando a série de longa-metragens feitos por artistas plásticos, Cineclube apresenta na próxima terça-feira, 16 de outubro, a versão para cinema da instalação Manifesto (2015) do artista alemão Julian Rosefeldt. O filme apresenta trechos de vários manifestos políticos e artísticos combinados em 13 cenas interpretadas pela atriz Cate Blanchett. Esses excertos, partes de textos escritos nos últimos 150 anos por diversos autores – de Karl Marx a Lars von Trier –, foram costurados de maneira intrigante, visualmente impressionante e intelectualmente conflituosa. Blanchett incorpora uma série de personagens arquetípicos, submetendo-se a um exercício camaleônico intenso com a utilização de uma série de perucas, figurinos e maquiagens. As personagens aparecem como veículos para um mosaico de palavras construído a partir de uma reflexão sobre o político e o artístico, decorrente de conversas entre o diretor e a atriz. Entretanto, a descontextualização dos trechos utilizados apagam as peculiaridades literárias dos originais, neutralizando muitas das ideias revolucionárias contidas nos manifestos mutilados por Rosefeldt e Blanchett. Julian Rosefeldt estudou arquitetura em Munique e Barcelona e, desde 1997, vem apresentando seus trabalhos artísticos – na maior parte, vídeo instalações sofisticadas – em diversas mostras internacionais, inclusive no Brasil. Em 2004, por exemplo, o artista participou da 26a Bienal de São Paulo, em 2007, fez uma individual na Galeria Vermelho e, em 2014, apresentou o filme Lonely Planet (2006) na 10a edição da Verbo 2014 – Mostra de Performance Arte. Manifesto foi filmado em 12 dias durante o inverno alemão, resultando em 130 minutos de material bruto. O cronograma apertado não deu espaço para improvisações ou experimentações tanto na fotografia, que foi planejada minuciosamente, quanto na atuação de Blanchett, que muitas vezes beira o maneirismo. O filme foi apresentado pela primeira vez como uma instalação de vídeo com 13 projeções simultâneas no Australian Centre for the Moving Image. Em 2017, a versão linear do trabalho – à qual assistiremos na terça-feira – teve sua estreia mundial no Sundance Film Festival.
--------------------
O ponto de partida de Rosefeldt é evocar esses manifestos na voz de uma mulher e, como dispositivo, situar suas imagens na contemporaneidade, tencionando seu inventário verborrágico a imagens dos arredores de uma Berlim hiper-tecnológica e ao mesmo tempo degradada, como ruínas sobreviventes de um século heroico.
Os manifestos, em seu estatuto de verdade autoproclamada, são solucionados cenicamente em situações próprias do monólogo, como variações de um palanque: o discurso num enterro, a prece no jantar, uma professora em sala de aula, uma diretora de companhia de teatro, uma âncora de noticiário. Assim, na artificialidade e no desajuste entre texto e imagem, Blanchett e Rosefeldt dão forma narrativa a Manifesto.
Antes do longa, vamos assistir ao vídeo-comentário feito para Manifesto, mais um episódio da série Oficina do Diabo. Convidamos todos para trocar uma ideia lá em baixo depois da sessão, tomando uma cerveja no Odebreja. Estaremos também vendendo camisetas que fizemos para a ocasião do filme. Aceitamos cartão.
Francisco Miguez

30.10.2018
O GRANDE DITADOR (1940)
[The Great Dictator]
de Charlie Chaplin
com Charlie Chaplin, Paulette Godard, Reginald Gardiner
126 minutos

Devido ao resultado das eleições de domingo, Cineclube resolveu abandonar a série de longas-metragens feitos por artistas plásticos e apresentar amanhã, 30 de outubro, às 20hs, O Grande Ditador de Charlie Chaplin (1889-1977). Primeiro filme falado de Chaplin, O Grande Ditador apresenta uma sátira da Alemanha nazista, enfocando a escalada da violência contra judeus durante os anos 1930. O personagem cômico de Chaplin – o Vagabundo – é um barbeiro judeu que é sósia de um ditador e que acaba ocupando o seu lugar. O ditador, Adenoid Hynkel ¬– uma referência óbvia a Hitler – é uma tentativa, em grande parte bem sucedida, de ridicularizar o estadista alemão. A comédia se desenvolve com uma série de gags e pantomimas impagáveis. Entretanto, ela se encerra de maneira não convencional, com um monólogo de mais de três minutos da personagem principal, apresentando as opiniões do diretor. Chaplin fala diretamente para a câmera, com sua própria voz, sem toques cômicos, retirando da narrativa o tom paródico e inserindo um tipo de “editorial” que encerra o filme. Apesar das controvérsias que surgiram por causa dessa cena, Chaplin estava determinado a manter seu discurso, colocando seu personagem principal em foco e mais de um milhão de dólares de seu próprio bolso, a fim de ridicularizar Hitler. Depois de O Grande Ditador, Chaplin nunca mais interpretou um homenzinho de bigode. A natureza repressiva do Terceiro Reich e as tendências militaristas já eram bem conhecidas quando o filme foi feito mas, segundo uma entrevista posterior do autor, ele não o teria feito se soubesse da extensão real dos crimes nazistas. O roteiro foi escrito entre 1938 e 1939, após Chaplin ter assistido Triunfo da Vontade (1935) de Leni Riefenstahl, e as filmagens começaram em setembro de 1939, uma semana depois do início da II Guerra Mundial. O Grande Ditador foi bem recebido nos EUA e na Inglaterra, mas foi censurado em diversos países da América Latina, onde existiam forças simpatizantes ao nazismo. O filme ganhou cinco indicações ao Oscar, por filme, ator, ator coadjuvante, roteiro e música.
--------------------
O partido nazista, ao tomar consciência do conteúdo do filme, tentou desmerecê-lo na época ao acusar Chaplin de tratar o Terceiro Reich “como um circo de personagens bobos e excêntricos”. O que os nazistas não entenderam é que era precisamente essa a grande qualidade do espetáculo zombeteiro do diretor. Seu longa-metragem ficou muito conhecido pelo discurso final pacifista do barbeiro-judeu, uma colocação do próprio diretor. Mas o filme é mais do que isso.
A maior força de O Grande Ditador está em devolver ao homem a capacidade de duvidar dos mitos, que esbravejam suas promessas de glória e salvação eternas. Ao expor os ditadores ao escrutínio da piada e do riso, o filme de Chaplin mostra sua resistência a eles. O longa oferece um antidoto contra as paixões políticas cegas e o culto da personalidade, que estão e são tão fundamentais para a barbárie que atravessou os séculos até agora. Barbárie que hoje se faz tão presente em nossas vidas, nos mostrando que a força de sobrevivência que atravessa o tempo está impregnada em grandes clássicos como a sátira de Chaplin.
Apresentaremos antes do filme um episódio da série Oficina do diabo, que abre todas as sessões. Convidamos a todas presentes para tomar uma cerveja depois da sessão no Odebreja, e falar a respeito da nossa vida e do filme. Boa sessão!
Victor Maia
13.11.2018
SWASTIKA (1973)
[Swastika]
de Philippe Mora
com Eva Braun, Galeazzo Ciano, Adolf Hitler, Joseph Goebbels
113 minutos
Na próxima terça, 13 de novembro, às 20hs, Cineclube apresenta Swastika do cineasta franco-australiano Philippe Mora (1949). Totalmente produzido com imagens de arquivo, sem locução e usando apenas som ambiente (os diálogos entre oficiais nazistas foram revelados por leitura labial e adicionados ao filme na pós-produção), Swastika é um documento impressionante sobre a forma arrasadora com que o nazismo conquistou a Alemanha. Por meio de uma montagem primorosa, Mora revela como a população alemã abraçou os ideais nazistas e as consequências trágicas disso. Imagens da intimidade de Hitler em sua “casa de campo” em Berghof, nos Alpes da Baviera, são intercaladas com clipes de comícios nazistas, das Olimpíadas de 1936 em Berlim, dos recrutas militares em treinamento e da destruição das propriedades de judeus na Alemanha e na Áustria. Mora descobriu que Eva Braun tinha uma câmera de 16mm ao entrevistar Albert Speer, arquiteto nazista confidente de Hitler. Em 1972, conseguiu acesso a 8 latas de filmes coloridos de 16mm encontradas nos aposentos privados de Eva Braun e esquecidas num arquivo militar americano por quase 30 anos. O escritor e compositor britânico Noël Coward, que integrava a lista negra dos nazistas, cedeu os direitos de sua música satírica Don’t Let’s Be Beastly to the Germans para o filme. Philippe Mora é filho de uma artista francesa e de um marchand de arte judeu-polonês que atuou na resistência francesa, durante a II Guerra Mundial. Com 15 anos fez seu primeiro filme, em Melbourne. Em 1967, mudou-se para Londres onde continuou a produzir filmes, além de pinturas, objetos e instalações. Swastika estreou no Festival de Cannes em 1973, com críticas negativas e brigas na plateia, tendo sido banido em Israel e proibido na Alemanha até 2010.
--------------------
Swastika combina em uma hora e meia de filme cenas retratando o cotidiano de Adolf Hitler e alguns nomes do alto comando nazista, intercaladas com propagandas oficiais nazistas, registros dos jogos olímpicos de Berlim e outros eventos oficiais. O filme causou enorme controvérsia mesmo antes de ser lançado, a começar pela disputa de autoria da irmã de Eva Braun, Gretl, que reivindicou a filmagem de alguns trechos utilizados pelo diretor e tentou, assim, evitar seu lançamento. A exibição do filme em festivais gerou reações violentas e interpretações de que o conjunto de imagens construía um Hitler carismático, afirmação bastante injusta considerando o texto que abre o filme e também seu desfecho catatônico e sombrio. Foi condenado por uma série de intelectuais, entre eles James Baldwin, que acusavam o filme de ser pró-nazista. A maioria de seus críticos acreditava que o público talvez não fosse capaz de absorver a crítica que o filme pretendia evidenciar – a de que o regime nazista foi construído por pessoas normais e não por monstros – e, ao contrário, poderiam se sentir atraídos pela pompa do império nazista, seus códigos militares e, claro, por um Hitler que recebia calorosamente jovens entusiastas, abraçava pobres e carregava crianças no colo.
O desconforto com o filme justamente provém do fato de que o Hitler da casa de campo, o ditador em férias, aparece aqui como uma pessoa normal: afagando cachorros, discutindo sobre assuntos irrelevantes e convivendo entre crianças e amores. Isto é, o filme evidencia que não é necessário ser um tirano maligno e totalmente desequilibrado para cometer atrocidades e barbáries. Até mesmo uma pessoa com hábitos ordinários é capaz de violências extraordinárias. Esse tipo de discussão é particularmente interessante nos dias de hoje, em que o limite entre o privado e o público foi de alguma forma redefinido; comumente, encontramos políticos valendo-se de representações de seu cotidiano como prova de caráter e honestidade. As postagens de Bolsonaro tomando café da manhã sem pratos, comendo um cachorro-quente de rua ou mesmo lavando suas próprias roupas enquanto está de férias não parecem desprovidas de interesse político.
Philippe Mora, diretor de Swatiska, imprime um ritmo bastante marcado ao filme, produzindo um constante jogo de contrastes ao exibir Hitler, Eva e outros confidentes íntimos em cenas banais, como a que o ditador explana sobre os efeitos maléficos dos hábitos tabagistas, intercaladas por acontecimentos e registros oficiais do regime, assim como os trechos que retratam o avanço das propostas genocidas defendidas pelos nazistas – como na cena em que Hitler brinca com crianças, contraposta a cenas de crianças alemãs abandonadas e esfarrapadas nas ruas.
O filme conta com a co-produção de David Puttnam, que mais tarde veio a produzir filmes ganhadores do Oscar como Carruagens de Fogo, A missão e Os gritos do Silêncio e também de Lutz Becker, que co-escreveu o roteiro com Mora e dirigiu, entre 77 e 93, uma trilogia sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. Philippe Mora, descendente de família judaica, foi também pintor e diretor de filmes experimentais.
As imagens utilizadas são, sobretudo, de filmagens realizadas por Eva Braun na casa de campo conhecida como Berghof que mantinham em Obersalzberg, com vista para as montanhas da Bavaria e onde Eva se refugiaria durante quase toda segunda guerra mundial e Hitler passava suas férias desde 1935. Há também diversas cenas de propagandas oficiais do regime, que mostram famílias unidas, trabalhadores infatigáveis, um líder carinhoso e auto-estradas impecáveis. Os diálogos entre Hitler e seus companheiros na Berghof foram dublados na pós-produção a partir de leituras labiais. Swastika foi banido na Alemanha e em Israel por 37 anos.
Pedro Andrada
![]()
13.11.2018
SWASTIKA (1973)
[Swastika]
de Philippe Mora
com Eva Braun, Galeazzo Ciano, Adolf Hitler, Joseph Goebbels
113 minutos
Na próxima terça, 13 de novembro, às 20hs, Cineclube apresenta Swastika do cineasta franco-australiano Philippe Mora (1949). Totalmente produzido com imagens de arquivo, sem locução e usando apenas som ambiente (os diálogos entre oficiais nazistas foram revelados por leitura labial e adicionados ao filme na pós-produção), Swastika é um documento impressionante sobre a forma arrasadora com que o nazismo conquistou a Alemanha. Por meio de uma montagem primorosa, Mora revela como a população alemã abraçou os ideais nazistas e as consequências trágicas disso. Imagens da intimidade de Hitler em sua “casa de campo” em Berghof, nos Alpes da Baviera, são intercaladas com clipes de comícios nazistas, das Olimpíadas de 1936 em Berlim, dos recrutas militares em treinamento e da destruição das propriedades de judeus na Alemanha e na Áustria. Mora descobriu que Eva Braun tinha uma câmera de 16mm ao entrevistar Albert Speer, arquiteto nazista confidente de Hitler. Em 1972, conseguiu acesso a 8 latas de filmes coloridos de 16mm encontradas nos aposentos privados de Eva Braun e esquecidas num arquivo militar americano por quase 30 anos. O escritor e compositor britânico Noël Coward, que integrava a lista negra dos nazistas, cedeu os direitos de sua música satírica Don’t Let’s Be Beastly to the Germans para o filme. Philippe Mora é filho de uma artista francesa e de um marchand de arte judeu-polonês que atuou na resistência francesa, durante a II Guerra Mundial. Com 15 anos fez seu primeiro filme, em Melbourne. Em 1967, mudou-se para Londres onde continuou a produzir filmes, além de pinturas, objetos e instalações. Swastika estreou no Festival de Cannes em 1973, com críticas negativas e brigas na plateia, tendo sido banido em Israel e proibido na Alemanha até 2010.
--------------------
Swastika combina em uma hora e meia de filme cenas retratando o cotidiano de Adolf Hitler e alguns nomes do alto comando nazista, intercaladas com propagandas oficiais nazistas, registros dos jogos olímpicos de Berlim e outros eventos oficiais. O filme causou enorme controvérsia mesmo antes de ser lançado, a começar pela disputa de autoria da irmã de Eva Braun, Gretl, que reivindicou a filmagem de alguns trechos utilizados pelo diretor e tentou, assim, evitar seu lançamento. A exibição do filme em festivais gerou reações violentas e interpretações de que o conjunto de imagens construía um Hitler carismático, afirmação bastante injusta considerando o texto que abre o filme e também seu desfecho catatônico e sombrio. Foi condenado por uma série de intelectuais, entre eles James Baldwin, que acusavam o filme de ser pró-nazista. A maioria de seus críticos acreditava que o público talvez não fosse capaz de absorver a crítica que o filme pretendia evidenciar – a de que o regime nazista foi construído por pessoas normais e não por monstros – e, ao contrário, poderiam se sentir atraídos pela pompa do império nazista, seus códigos militares e, claro, por um Hitler que recebia calorosamente jovens entusiastas, abraçava pobres e carregava crianças no colo.
O desconforto com o filme justamente provém do fato de que o Hitler da casa de campo, o ditador em férias, aparece aqui como uma pessoa normal: afagando cachorros, discutindo sobre assuntos irrelevantes e convivendo entre crianças e amores. Isto é, o filme evidencia que não é necessário ser um tirano maligno e totalmente desequilibrado para cometer atrocidades e barbáries. Até mesmo uma pessoa com hábitos ordinários é capaz de violências extraordinárias. Esse tipo de discussão é particularmente interessante nos dias de hoje, em que o limite entre o privado e o público foi de alguma forma redefinido; comumente, encontramos políticos valendo-se de representações de seu cotidiano como prova de caráter e honestidade. As postagens de Bolsonaro tomando café da manhã sem pratos, comendo um cachorro-quente de rua ou mesmo lavando suas próprias roupas enquanto está de férias não parecem desprovidas de interesse político.
Philippe Mora, diretor de Swatiska, imprime um ritmo bastante marcado ao filme, produzindo um constante jogo de contrastes ao exibir Hitler, Eva e outros confidentes íntimos em cenas banais, como a que o ditador explana sobre os efeitos maléficos dos hábitos tabagistas, intercaladas por acontecimentos e registros oficiais do regime, assim como os trechos que retratam o avanço das propostas genocidas defendidas pelos nazistas – como na cena em que Hitler brinca com crianças, contraposta a cenas de crianças alemãs abandonadas e esfarrapadas nas ruas.
O filme conta com a co-produção de David Puttnam, que mais tarde veio a produzir filmes ganhadores do Oscar como Carruagens de Fogo, A missão e Os gritos do Silêncio e também de Lutz Becker, que co-escreveu o roteiro com Mora e dirigiu, entre 77 e 93, uma trilogia sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. Philippe Mora, descendente de família judaica, foi também pintor e diretor de filmes experimentais.
As imagens utilizadas são, sobretudo, de filmagens realizadas por Eva Braun na casa de campo conhecida como Berghof que mantinham em Obersalzberg, com vista para as montanhas da Bavaria e onde Eva se refugiaria durante quase toda segunda guerra mundial e Hitler passava suas férias desde 1935. Há também diversas cenas de propagandas oficiais do regime, que mostram famílias unidas, trabalhadores infatigáveis, um líder carinhoso e auto-estradas impecáveis. Os diálogos entre Hitler e seus companheiros na Berghof foram dublados na pós-produção a partir de leituras labiais. Swastika foi banido na Alemanha e em Israel por 37 anos.
Pedro Andrada

26.03.2019
RELAÇÕES DE CLASSE (1984)
[Klassenverhältnisse]
de Straub–Huillet
com Christian Heinisch, Mario Adorf, Harun Farocki
130 minutos

Na próxima terça, 26 de março, às 20hs, Cineclube retoma as atividades apresentando Relações de classe do casal francês Jean-Marie Straub (1933) e Danièle Huillet (1936-2006). O filme é baseado no primeiro romance (incompleto) de Franz Kafka, O desaparecido ou Amerika, publicado após a morte do escritor. O livro conta a história de um jovem alemão que, forçado pelos pais a emigrar para os Estados Unidos, se vê num labirinto de situações que fazem com que suas expectativas com relação ao “novo mundo” entrem em conflito com a realidade do trabalho. O filme de Straub–Huillet se desenvolve a partir da perspectiva do personagem principal, mergulhado num mar de mentiras violentas e otimismo quixotesco. Os cineastas realizaram quase todo o filme na cidade portuária de Hamburgo, tentando construir uma “Amerika” a partir de uma paisagem e de uma experiência alemã, já que o próprio Kafka nunca visitou os Estados Unidos. Mesmo assim, a representação da injustiça e da exploração em Relações de classe, transcende a especificidade histórica, oferecendo, por meio de uma construção acurada, chaves para se pensar as relações de trabalho no mundo capitalista. Jean-Marie Straub e Danièle Huillet se conheceram em 1954 e começaram a trabalhar juntos em 1963. Seus filmes – produzidos a partir de textos que incluem desde óperas até escritos políticos – são aclamados por sua beleza requintada, sua originalidade surpreendente e seu rigor excepcional. E, apesar de a literatura, a arte e a música terem sido fundamentais na prática da dupla, o mais importante para ela é a força política de seus filmes. O cinema “marxista” de Straub–Huillet explora de maneira consistente estratégias radicais, sem incorrer num didatismo doutrinário e sem operar sob quaisquer ilusões de que seu radicalismo formal tenha eficácia política. Relações de classe estreou no 34o Festival Internacional de Cinema de Berlin, recebendo menção honrosa. O cineasta Harun Farocki – que atua no filme – realizou o documentário Straub und Huillet bei der Arbeit an einem Film nach Franz Kafkas Romanfragment Amerika [Jean-Marie Straub e Danièle Huillet trabalhando num filme baseado no romance inacabado Amerika de Franz Kafka] sobre a realização do filme.
--------------------
Relações de classe é uma adaptação do romance inacabado de Franz Kafka, conhecido como O Desaparecido ou Amerika, e conta a história de um jovem alemão chamado Karl Rossmann, que se vê obrigado a deixar seu país de origem após engravidar uma empregada de sua família. Com sua chegada ou “queda” nos Estados Unidos, Karl se depara com um emaranhado de situações desconexas que percebe como injustas e que colocam em questão suas expectativas em relação ao trabalho e às oportunidades de integração social e ascensão na sociedade capitalista. O mito de ascensão social está metaforicamente retratado no filme (e também no livro) através do trabalho que Karl vai exercer durante boa parte da história, que é justamente um trabalho de ascensorista.
Esse filme foi escolhido pelo DEPOIS DO FIM DA ARTE como um desdobramento da leitura do livro O Uso dos Corpos (Homo Sacer, IV, 2), do filósofo italiano Giorgio Agamben, com destaque para o trecho em que o autor aborda os conceitos de obra e inoperosidade. Agamben compara o estilo de vida do militante político à “vida do artista da modernidade, presa numa curiosa e inextricável circularidade. Por um lado, a biografia do artista deve dar testemunho, por meio de sua própria forma, da verdade da obra que nela se situa; por outro, é a prática da arte e a obra que ela produz que conferem a sua vida a marca da autenticidade.”
Karl parece aprisionado nessa circularidade entre vida e trabalho. Nesse sentido, é interessante destacar como as concepções de desejo e ofício do protagonista vão sendo desconstruídas por Straub-Huillet. O texto do filme reproduz o dialeto kafkiano, expondo as relações de subserviência e insuficiência que se infiltram nas subjetividades daqueles com quem Karl se encontra em seu percurso e destacando a tradição jurídico-política que Agamben também questiona em todos os volumes de Homo Sacer. No filme essa tradição é desvelada pelos diálogos prolixos entre as diferentes figuras de poder das quais o personagem principal ameaça escapar. Um teatro incessante de representações falsas que diz respeito aos cenários político e “democrático” que enfrentamos hoje.
Apesar de se passar nos Estados Unidos, o filme foi quase inteiramente, filmado na cidade de Hamburgo, e de certa forma remete ao fato de Kafka nunca ter ido à Estados Unidos. Boa parte dos conflitos tratados em Relações de classe se encontram numa ponte entre a Amerika imaginada e a Alemanha vivida. Talvez aí se possa notar a universalidade desses conflitos.
Após a sessão abriremos nosso bar, o Odebreja. E desejamos a todos um bom filme.
Marina Lima
Bruno Ferreira
09.04.2019
OS ZUMBIS DE SUGAR HILL (1974)
[Sugar Hill]
de Paul Maslansky
com Marki Bey, Robert Quarry, Don Pedro Colley
91 minutos
Na próxima terça, 9 de abril, às 20hs, Cineclube apresenta Os zumbis de Sugar Hill dirigido pelo produtor hollywoodiano Paul Maslansky (1933). O filme começa com um ritual vodu que é na realidade uma performance para turistas brancos numa boate de sucesso. O assassinato do dono da boate faz com que sua namorada, Diana “Sugar” Hill – que não confia nada no trabalho da polícia ¬– decida vingar-se. Com a ajuda de uma praticante de vodu, ela convoca a entidade Barão Samedi – o “Senhor dos Mortos” – para ajudá-la em sua busca por vingança. Os zumbis de Sugar Hill é um cruzamento de Blaxploitation e terror que, por meio de zumbis, apresenta um comentário sarcástico sobre as relações de classe e as desigualdades sociais. O filme é um tipo de resposta a Viva e deixe morrer (1973), primeiro filme de James Bond com Roger Moore, que havia sido lançado no ano anterior, valendo-se de "exotismos" caribenhos e incluindo aparições do Barão Samedi. Viva e deixe morrer é uma ilustração da agenda colonial em curso no mundo "civilizado": a cultura caribenha existe como entretenimento para brancos ou como a personificação do Mal, uma espécie de Outro Orientalista. Os zumbis de Sugar Hill é uma resposta Blaxploitation a Bond, recuperando as tradições caribenhas para o público afro-americano e, simultaneamente, reconhecendo sua própria participação na chave da “cultura como entretenimento”. Os escravos zumbis caribenhos controlam o poder sobrenatural e anunciam que os tempos do bokor branco acabaram. O diretor Paul Maslansky tem uma carreira eclética. Ele começou como trompetista, atuando em várias bandas em sua cidade natal, Manhattan. Depois de passar um tempo fazendo publicidade no rádio, atuou como assistente de direção e como produtor em diversos filmes. Entretanto seu trabalho mais conhecido é a produção de Loucademia de polícia (1984), que teve seis sequências e duas versões para TV. Os zumbis de Sugar Hill foi produzido e distribuído nos Estados Unidos pelo American International Pictures na sequência de sucessos como Blácula (1972) e Grite, Blácula, grite! (1973), com a diferença de que o primeiro não é baseado em uma peça de literatura europeia do século XIX. Ainda bastante ignorado, até mesmo pelos fãs de filmes cult, Os zumbis de Sugar Hill vem começando a reaparecer nas sessões da meia-noite de alguns cinemas norte-americanos, adquirindo popularidade entre fãs de filmes de terror vintage.
--------------------
Dando continuidade ao Cineclube organizado pelo DEPOIS DO FIM DA ARTE, apresentamos Os zumbis de Sugar Hill, filme de 1974, dirigido por Paul Malansky (Nova Iorque, 1933) para propor um cruzamento com o livro Necropolítica, de Achille Mbembe (Camarões, 1957), publicado originalmente em inglês pela primeira vez em 2003, no 15o volume da Public Cultures, pela Duke University Press em parceria com a Universidade de NY.
Nesta obra, Mbembe aponta a insuficiência do conceito Foucaultiano de biopoder para tratar das políticas do estado do fazer viver e deixar morrer para as identidades abjetas contemporâneas, propõe, então, a noção de “necropoder”: uma política de morte com práticas e tecnologias produzidas por um sistema de poder não apenas, mas também com fortes heranças no sistema colonial.
Trata-se de estabelecer uma reflexão sobre a noção de morte em três instâncias reservadas historicamente as maiorias minorizadas no país – como negros, indígenas e mulheres. Essas três categorias de morte, segundo Allyne Andrade e Silva – advogada, feminista negra e doutoranda em direito na Faculdade de Direito da USP – estão sistematizadas nos campos:
1 - Epistemológico: quando não se acessa as tomadas de decisão e poder político e jurídico;
2 - Historiográfico/Cultural: quando não se é permitido participar de uma historiografia e consequentemente produzir um reconhecimento de si mesmo;
3 - Pragmático/físico: quando os corpos são “matáveis” dentro de estruturas de poder nas quais o estado é o agente de reconhecimento de humanidade, seja pelo encarceramento, pela violência policial ou pelas mortes decorridas de abortos clandestinos.
Esse segundo tipo de morte é o que estaria sob responsabilidade da produção artística e cultural. É preciso reconhecer o poder que o cinema exerce sobre a sociedade e o papel da produção artística como uma constante disputa pelo imaginário. Neste sentindo a criação de contra narrativas emancipadoras seria também o não deixar morrer.
Destacamos as duas obras como produções decoloniais, ou seja, cada uma a seu modo parte de suas próprias ferramentas para transgredir a lógica colonial que busca criticar, partindo de uma produção de conhecimento e de narrativas que alteram os valores de domínio colonial, seja caricaturizando personagens brancos,ou transpondo o poder às mulheres.
Assim como Mbembe desdobra os termos Foucaultianos, Os zumbis de Sugar Hill responde ao filme Viva e deixe morrer (1973), dirigido por Guy Hamilton. Ambas as obras se configuram como trabalhos de resposta, resistência e refutação sobre as produções e os estudos culturais ocidentais e seus parâmetros embranquecidos. heterossexuais e cristãos.
Essas contestações tem origens sócio-políticas localizadas: Os zumbis de Sugar Hill faz parte do movimento cinematográfico norte americano da década de 70 chamado Blaxploitation. O termo deriva da união das palavras black (preto) e exploitation (exploração) e congrega uma série de produções centradas tanto na representação e no reconhecimento do negro dentro da lógica de entretenimento norte-americana, como nos custos e nas relações econômicas que permeiam a produção cinematográfica. O movimento Blaxploitation guarda idiossincrasias internas e muito próprias relacionadas ao sistema de ocupação colonial norte-americano: as produções do nordeste e da costa são urbanas e pobres, com uma aproximação maior a personagens white trash e latinos, já o Blaxploitation produzido no Sul estadunidense - como é o caso de Os zumbis de Sugar Hill localizado no estado da Louisiana - trata geralmente de questões relacionadas à escravidão.
Retomamos então o que Mbembe denomina de topografias recalcadas de crueldade e topografias da violência, ou seja o que se produz de conhecimento e as derivações culturais que esta é capaz produzir. Para localizar o filme, também destacamos os termos: políticas de morte, desumanização e heteronomia e especialmente a noção de soberania:
“Neste caso, o romance da soberania baseia-se na crença de que o sujeito é o principal autor controlador do seu próprio significado (...) O exercício de soberania, por sua vez, consiste na capacidade da sociedade para a sua autocriação, pelo recurso às instituições inspirado por significações específicas sociais e imaginárias”. (MBEMBE, p. 10)
Desejamos a todos uma boa sessão.
Lahayda Dreger
Aryani Marciano
Ariedhine Carvalho
TEXTO: MBEMBE, Achille, Necropolítica, São Paulo: N-1 edições, 2018, 80p.
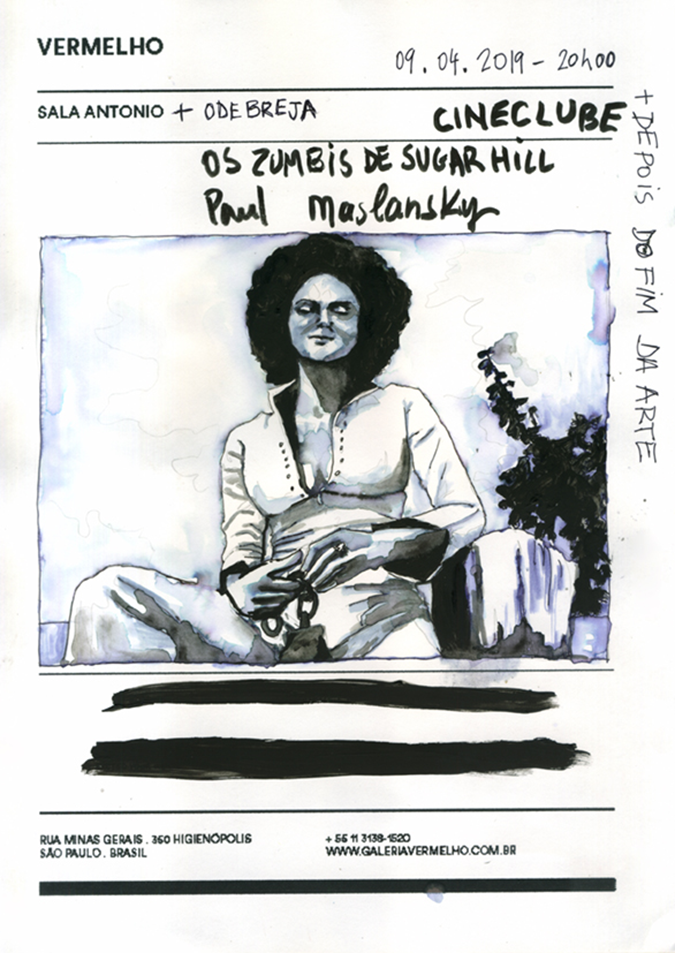
30.04.2019
TOUKI BOUKI, A VIAGEM DA HIENA (1973)
[Touki Bouki]
de Dijbril Diop Mambéty
com Magaye Niang, Mareme Niang
95 minutos

Na próxima terça, 30 de abril, às 20hs, Cineclube apresenta Touki Bouki, a viagem da hiena, do diretor, ator, orador, compositor e poeta Dijbril Diop Mambéty (1945-1998). O filme apresenta um retrato fraturado do Senegal dos anos 1970, emanando o desencantamento do período pós-independência. Mory e Anta, um jovem casal de Dakar que está farto de sua terra natal, tentam emigrar para Paris. Como uma versão anárquica e frenética de Bonnie e Clyde, eles correm pelas ruas de Dakar, na motocicleta de Mory, com seu guidão coroado por chifres de zebu, procurando desesperadamente sair da cidade. Ao longo do filme, Mambéty não apenas se limita a descrever os aspectos práticos – econômicos, políticos, religiosos, cerimoniais e até geográficos – da vida em Dakar, mas revela suas implicações fantasmagóricas. Ele faz isso por meio de imagens que são tanto incisivas quanto extravagantes, que unem avidez documental a talento imaginativo, explicitando suas influências da Nouvelle Vague francesa. O filme é um retrato profético das crises tanto da tradição quanto da modernidade – vividas pelos personagens e por seus contemporâneos – refratadas de 1973 até a atualidade. O desenho de som é crucial durante todo o filme, tendo sido a base para a edição das imagens. Cada voz e ruído tem seu lugar, desde a flauta de peuhl, ouvida quando os rebanhos chegam para serem abatidos no matadouro, até a canção de Josephine Baker Paris Paris Paris, sur terre ce petit coin de paradis, que toca sempre que Mori liga a moto. Touki Bouki, a viagem da hiena foi o terceiro filme – e primeiro longa – de Mambéty que, no decorrer de sua vida, produziu apenas sete filmes. O diretor nasceu em Colobane, Senegal, formou-se em artes cênicas e trabalhou como ator no Teatro Nacional Daniel Sorano, em Dakar, até ser expulso por razões disciplinares. Em 1968, aos 23 anos, sem nenhum treinamento formal em cinema, dirigiu e produziu seu primeiro curta metragem, Contras' City. No ano seguinte, Mambéty fez Badou Boy, que ganhou o Prêmio Silver Tanit no festival de cinema de Cartago, na Tunísia. O curta apresentava um tipo de alter ego do diretor que percorria as ruas de Dakar nos ônibus da cidade. Desde então, Mambéty continuou a apresentar sua crítica da ordem estabelecida por meio da perspectiva de seus protagonistas. Em 1973, Touki Bouki, a viagem da hiena recebeu o Prêmio da crítica no Festival de Cannes e o Prêmio especial do júri no Festival de Moscou. Apesar do sucesso do filme nos festivais internacionais, Mambéty só viria a fazer outro longa – Hienas (1992) – vinte anos depois.
--------------------
Fique à vontade. Esta é uma casa de alegria. Você não é do Senegal? Somente europeus poderiam viver assim. Eu o conheci na casa de Mapenda. Senhor, podemos construir um conceito de África? Melhor a gente se mandar daqui e enviar-lhes um cheque depois. Os abutres, as
hienas terão sucesso. Eu não sou um de vocês. Paris: a porta de entrada do Paraíso.
Em uma das primeiras cenas, dentro de um abatedouro, vê-se o abatimento de um boi em todos os seus detalhes excruciantes, com sua cabeça sendo decepada explicitamente, ele tremendo pelas pernas ainda vivo, mas quase totalmente decapitado, jorrando sangue pelo pescoço. Segue -se a abertura de seu corpo e toda a limpeza com vias à obtenção das partes de interesse. Dura ao ponto da náusea. A imagem do animal vigoroso submetido à tal forma de morte pode ser um prenúncio fácil sobre o que o filme falará. Em seguida, um corte brusco e, numa paisagem rural, vemos uma menino montado no mesmo animal se aproximando cada vez mais da câmera, acompanhado por uma música instrumental que permanece até a cena seguinte, em que o registro da imagem é totalmente outro.
Nela, a câmera desloca-se junto às crianças correndo no que parece ser uma vila, que logo se mostra à beira da estrada, quando a imagem se abre para uma paisagem maior. O motoqueiro segue sozinho na estrada, com longos chifres de boi à frente de sua moto, e esta última, com seu adereço personalizado, será um símbolo que permanecerá no filme inteiro, objeto de contradições e motivo que ao final fará com que o personagem mude de ideia, se reveja, escolha o que não estava programado.
Boa noite! Dando continuidade as sessões do Cineclube, hoje exibiremos Touki Bouki, A viagem da hiena, filme senegalês, de 1973, dirigido por Djibril Diop Mambéty. Aos 28 anos, Mambéty, autodidata, havia dirigido outros dois curtas, quando filmou Touki Bouki, A viagem da hiena com 30 mil dólares. Apesar do baixo orçamento, o filme alcançou reconhecimento internacional por sua participação no Festival de Cannes do mesmo ano.
O filme segue a trajetória de Anta e Mory, dois jovens senegaleses. Anta é uma estudante universitária, e Mory um jovem sem aparente ocupação social, antes encarregado do pastoreio de gado (o que podemos induzir das cenas inciais do filme), e que já mais velho aparenta ser um deslocado obtendo dinheiro de maneira informal e ilícita. A figura de Mory como um trapaceiro se liga à da hiena (bouki) que dá título ao filme, à medida em que este animal na tradição oral africana representa simbolicamente a astúcia, na capacidade de enganar e de ser enganado.
Os dois jovens sonham em imigrar para a Paris; idealizam que a cidade seria o lugar onde seus sonhos se realizariam. Paris: a porta de entrada para o Paraíso. O filme não somente acompanha Anta e Mory na trajetória para a realização de seus sonhos, mas também outros personagens que representam uma constelação de contradições da sociedade senegalesa de Dakar: os militantes universitários (pseudo) revolucionários, a mãe de Anta vendedora de verduras cética quanto à educação universitária, a tia de Anta que persegue Mori por sua dívida e que, ao final, o louva-o como príncipe em troca de uma recompensa; o policial que se utiliza de sua autoridade para fins pessoais, para citar alguns.
Touki Bouki, A viagem da hiena possui influências de produções como O demônio das onze horas de Godard (1965), e Bonnie e Clyde de Arthur Penn (1967), além de aproximações com Eisenstein e a Nouvelle Vague pelos procedimentos de montagem disjuntivos de som e imagem empregados no filme. Com ares de um certo surrealismo, o filme emprega na montagem imagens que remetem a um tempo e espaço indeterminado, algumas sequências que não partem do princípio de uma lógica narrativa linear, além de imagens carregadas de tensão e simbolismo.
No entanto, todo o arcabouço de referências não pressupoe uma mera relação de influência passiva por parte do diretor, enquanto o colonizador, neste caso a tradição cinematográfica ocidental, especialmente a francesa irradia suas ideias e impõe seu projeto estético. Não parece haver uma relação afeita a escolhas deliberadas por estes referenciais estilísticos, pelo contrário, Touki Bouki, A viagem da hiena se sobressai justamente por ser um ponto fora da curva dentro das produções africanas francófonas da década de 60 e 70. Alguns filmes de Ousmane Sembene, conterrâneo de Mambety, tratam conflitos locais sob a perspectiva de um “realismo social”, opondo temas como o da tradição e da modernidade, sensibilidade rural versus a urbana, os rancores da herança colonial que coexistiam com a corrupção e a má fé no neocolonialismo. Tais antinomias são latentes nos filmes de Mambéty, de forma de que Touki Bouki, A viagem da hiena impressiona pelo grau de manipulação da linguagem que é capaz de aproximar a vida subjetiva dos protagonistas com problemáticas da história de seu país, perspectivas nunca separadas. E talvez a forma pela qual Mambéty faz isso se remeta à estas “invenções” ocidentais, tornadas tradição, mas que também surgiram como a crítica mais potente de sua própria sociedade.
Consciência que permeou também o cinema latino americano, e sobre a qual Susan Buck-Morrs perpassa em seu livro Hegel e o Haiti através da perspectiva do debate filosófico. A autora constrói uma narrativa que recupera fatos pouco referenciados diretamente pelas grandes teorias do sujeito, a de Hegel primordialmente, e invisibilizados pela recepção crítica até então feita sobre sua obra. Na dialética do senhor e do escravo, responsável por redimensionar a concepção de sujeito de seu solipsismo metafísico, para uma que entenda o sujeito como resultado de processos sociais de luta e reconhecimento, Hegel inverte a relação de dominação do senhor e do escravo, em que a essência da condição de escravo seria a dependência - servir como uma coisa ou objeto à outrem -, para deslocá-la para a condição do senhor - é ele quem depende do escravo. A emancipação viria, então, a partir da consciência do escravo de que ele é, na verdade, o agente do progresso histórico, ele é responsável pela transformação da natureza material.
As condições para a liberdade universal pareciam dadas no campo teórico, mas a sua concretização na realidade parecia encontrar resistências, a que Susan Buck-Morss atribui ao fato de que, na lógica do reconhecimento, o senhor ver o escravo como além de uma coisa implica se destituir como o único sujeito desta relação, o que detém o direito de subjugar o outro. Isso envolveria a destruição das formas de sustento do poderio econômico do império colonial europeu, e todas a formas de influência que dela provém, inclusive no campo cultural e artístico.
Tal destituição está em contínuo processo, e as múltiplas formas que a arte assume se voltam a refletir sobre as condições de emancipação. Filmes como Touki Bouki, A viagem da hiena, por sua apropriação subversiva que encontra correspondências equivalentes entre forma e conteúdo, entretanto não estáveis, parecem colocar que não existem polarizações certas entre centro e periferia, e que a crítica com vias à emancipação pode vir através da atenção absoluta dos mecanismos que viabilizam sua própria dominação. No filme nada indica que haverá uma redenção, que os personagens poderão ascender de suas condições de pobreza, mas eles têm desejos, atitudes e sonhos. E o filme é como um sonhar acordado.
Antes da exibição teremos como de costume um vídeo comentário feito a partir da escolha do filme para essa ocasião.
Desejamos a todos e todas uma ótima sessão e esperamos vocês para tomar uma cerveja e conversarmos no bar lá em baixo.
Victor Maia
Thais Suguiyama
TEXTO: BUCK-MORSS, Susan. Hegel e o Haiti. São Paulo: N-1 Edições, 2017.
14.05.2019
A VIDA DE JESUS (1997)
[La vie de Jésus]
de Bruno Dumont
com David Douche, Marjorie Cottreel, Kader Chaatouf
96 minutos

Na próxima terça, 14 de maio, às 20hs, Cineclube apresenta A vida de Jesus, filme de estreia do diretor francês Bruno Dumont (1958). A narrativa apresenta o cotidiano de um grupo de jovens sem rumo, numa pequena cidade no norte da França. Sua inesperada riqueza filosófica é desvelada por meio do personagem Freddy, interpretado por David Douche em uma performance reveladora e única. Freddy não estuda, não trabalha e mora com a mãe, no andar de cima do café do bairro. Em grande parte inarticulado, ele ademais sofre de ataques epilépticos incapacitantes e é propenso a explosões de raiva. A epilepsia aumenta sua sensação de aprisionamento e simboliza o quanto suas emoções estão bloqueadas. Sem muita educação e com nenhuma habilidade, Freddy vaga com sua namorada Marie pelas ruas da pequena Bailleul, espelhando as ações de parte da juventude europeia ocidental. A oscilação entre momentos de inatividade contemplativa e de terrível brutalidade é intensificada pelas paisagens inertes apresentadas em longos planos construídos milimetricamente. É nessa platitude, potencializada ainda mais pelo CinemaScope e pela austeridade da trilha sonora, que a violência explode. Dumont apresenta um retrato local como paradigma de questões universais. Seus personagens são construídos como rascunhos completados posteriormente pelos “atores” – todos amadores – que demonstram ou experimentam o mal-estar causado pela dificuldade de comunicação e expressão. Os jovens não-atores de A vida de Jesus se movem como se estivessem debaixo d’água, esmagados pelo peso de suas existências vazias num mundo desprovido de Deus. Com sua simplicidade rigorosa e sua construção minuciosa, o filme deixa o público livre para fazer conexões e tirar conclusões. Apesar do nome, A vida de Jesus não é simplesmente um filme sobre religião. Qualquer tipo de “metafísica” é deliberadamente evitado e constantemente negado pelos personagens, que se distraem com banalidades regadas a sexo e violência. Segundo o diretor, a ideia para o filme surgiu a partir de um texto do filólogo francês Ernest Renan em que a história de Jesus é contada, deixando de lado o sobrenatural e o folclore. Bruno Dumont estudou Filosofia em Lille e, segundo ele, esta tornou-se a ferramenta que o levou a “olhar além do visível, a explorar aquilo que a razão não explora” e fazer filmes. Antes de realizar A vida de Jesus, trabalhou como professor de filosofia e como produtor de vídeos corporativos onde aprendeu a “criar significado a partir de nada”. O professor e o filósofo estão constantemente desafiando um ao outro. Entre os dois, sobra um cineasta que acredita que a “realidade não tem nada para ensinar, é a verdade do homem que importa. O verdadeiro par de sapatos é aquele pintado por Van Gogh”. A vida de Jesus foi o vencedor do Câmera D'Or, no Festival de Cannes, e do Prêmio Jean Vigo, ambos em 1997.
--------------------
Entre os possíveis paralelos e cruzamentos entre o filme A Vida de Jesus (1997), trabalho de estreia do francês Bruno Dumont (1958) e início do livro Crítica da Razão Negra (2013) do filósofo camaronês Achille Mbembe (1957) podemos discutir a ideia de “raça”, que para Mbembe é uma ficção europeia que tem consequências práticas.
“Raça é uma categoria material e fantasmagórica originária de catástrofes, devastações e carnificinas” (MBEMBE, p. 11). O negro, o árabe, o branco, assim como qualquer outra figura identitária é uma ficção constantemente atualizada para a manutenção e o deslocamento do poder.
Ao transformar a premissa kantiana de uma Crítica da razão pura em uma Crítica da razão negra, Mbembe não apenas reforça a distância entre centro e periferia - Europa e África - ou cria uma mera reivindicação identitária através da substituição dos protagonistas das história, mas propõe uma abertura para novas exigências e critérios de universalidade.Há uma crítica tanto às consequências da ideia de racionalidade moderna, quanto à ideia de pureza. “O pensamento europeu sempre teve tendência a abordar a identidade [...] na relação do mesmo com o mesmo [...] , uma autoficção, autocontemplação ou enclausuramento que acabam por determinar a identidade dos negros: defino o outro a partir do que digo de mim” (p. 10).
Historicamente, a empresa colonial se valia de ideias como “civilização” ou “humanização” justamente para desumanizar o negro - grupo cujas consequências dessa “ficção identitária” são mais marcantes física, econômica e psiquicamente do que em qualquer outro grupo. “Negro [...] além de designar uma realidade heteróclita e múltipla, fragmentada, assinalava uma série de experiências históricas desoladoras, a realidade de uma vida assombrada, para milhões de pessoas apanhadas nas redes de dominação da raça, de verem seus corpos e pensamentos a partir de fora e de terem sido transformadas em espectadores de qualquer coisa que não era sua vida” (p. 19).
Mbembe discute tanto o olhar do branco sobre os negros, quanto sua autopercepção ao definir o conceito de "a consciência negra do negro”. "A declaração de sua identidade [negra] traz consigo os vestígios, as marcas, o incessante murmúrio, a surda coação e a miopia dos discursos que determinam sua identidade - um subproduto da internacionalização poliglota” (pg 62) à qual foram forçados.
“Aquele a quem é atribuída uma raça não cabe a passividade: preso a uma silhueta, é separado de sua essência [...] habitando essa separação como se fosse seu verdadeiro ser. [...] A crítica da raça se dirige a essa separação e a esses estigmas. No oprimido, no entanto, isso gera um desejo paradoxal de comunidade, simultâneo à inquietação e à angústia expresso por uma linguagem de lamento, recordação melancólica ou luto rebelde por um rosto perdido ou esquecido" (p. 67). Uma experiência que encontramos, por exemplo, na música de Nina Simone. Assim, há um sentido negativo em reconhecer-se negro: a autoimagem do sujeito, como é visto socialmente e sua consciência da história estão em conflito.
A Vida de Jesus mostra um grupo de garotos brancos violentos, territoriais e um tanto animalizados: o foco nos genitais nas cenas de sexo; a fotografia que apresenta vastas paisagens por onde eles percorrem de moto, como a marcar o território; ou a maneira como o grupo se comporta, como um bando; além da ausência geral de afeto, reduzido a tentativa de sanar um evento traumático ou a momentos de socialização um tanto frios. Não há nenhum sentido metafísico ou religioso, como sugere o título, mas um retrato da vida repetitiva, vazia e agressiva de um grupo de garotos desocupados no início da vida adulta em uma pequena cidade no norte da França. Sua relação de ódio contra um outro garoto árabe, de quem curiosamente, emerge algum tipo de afeto e sensibilidade, se desenvolve ao longo da narrativa, estabelecendo um amplo espectro de formas de violência: na sexualidade, na linguagem, na distribuição do espaço e, claro, na violência física, no direito de decidir quem e como vai viver e morrer, que Mbembe discute no texto Necropolítica.
Na relação entre o filme e o livro, fica claro o que o filósofo diz sobre as consequências práticas do racismo: “Raça e racismo fazem parte de processos centrais no inconsciente [...] simbolizados pela lembrança de um desejo originário em falta. [...] Para que possa operar enquanto afeto, a raça tem de transformar-se em imagem, forma, superfície, figura e, sobretudo, imaginário - ainda que constituído de objetos esquizofrênicos que servem de apoio a uma figura de um eu que falta” (p. 65).
Entre os fatos históricos que determinam esse quadro, o autor destaca a escravidão (entre os séculos XV e XIX), na qual os sujeitos eram duplamente alienados, tanto da humanidade quanto do capital; as diversas revoltas pelo direito à liberdade e à linguagem (XIX); e as precárias condições de trabalho no mundo globalizado e neoliberal em que vivemos. Para Mbembe, a lógica da raça retornou no pensamento contemporâneo de modo diferente do que foi no século XIX, mas com características que reiteram aspectos do pensamento positivista: mapeamento genético, a ideia de doenças de raças específicas, estratégias de controle de fronteiras, territórios e informações, vigilância, necropolítica, além das guerras do tipo “presa x predador” em que ataques aéreos são realizados por dispositivos móveis.
Ao indicar as mudanças das formas de exploração ao longo do tempo, Mbembe diz que "[no contexto neoliberal o] indivíduo é aprisionado no seu desejo. A sua felicidade depende quase inteiramente da capacidade de reconstruir publicamente a sua vida íntima e de oferecê-la num mercado como um produto de troca. [...] este homem-coisa, homem-máquina, homem-código e homem-fluxo, procura antes de mais regular a sua conduta em função de normas do mercado, sem hesitar em se auto-instrumentalizar e instrumentalizar outros para otimizar a sua parte de felicidade. Condenado à aprendizagem para toda a vida, à flexibilidade, ao reino do curto prazo, abraça a sua condição de sujeito solúvel e descartável para responder à injunção que lhe é constantemente feita: tornar-se outro.” (p. 15) [...]
“Essa espécie de forma abstrata sempre pronta, capaz de se vestir de todos os conteúdos é típica da civilização da imagem e das novas relações que estabelece entre fatos e ficções” (pg14).
A precarização do trabalho em uma economia neoliberal - na qual a imagem e a autoimagem se tornam moeda de troca - universaliza a condição do negro para todos que não detêm o poder, aquilo que ele chama de “o devir negro no mundo”, ou seja, a institucionalização do caráter descartável e solúvel da vida. Podemos pensar nas diversas figuras de trabalhadores contemporâneos cujos vínculos empregatícios são frágeis e cujo trabalho é altamente normatizado, ainda que sem regulação, como um exemplo claro e cotidiano dessa situação. No mundo da informação, o poder já não é controlado apenas pelo estado, mas por forças privadas que se associam a entidades comerciais, gerando vigilâncias das massas que classificam e controlam os sujeitos.
A redução do sujeito à raça, à sua cor de pele e aspectos biomórficos é uma “codificação da loucura identitária europeia” e das identidades binárias que são “figuras do delírio que a modernidade produziu”. Nesse sentido, as discussões identitárias não se limitam apenas aos grupos pertencentes a elas, pois está em jogo todo um modo de subjetividade e sociabilidade cujos fluxos (entre centro e periferia, classes, gêneros etc) dizem respeito a todos.
Tende-se a pensar a discussão identitária ainda a partir da ideia de minorias, considerando o homem branco heterossexual como o “sujeito universal” de onde se estabelece a "diferença". A esta altura da história, podemos inverter a equação e desnaturalizar os brancos, seus hábitos, sociabilidade e afetos, combatendo construções ontológicas, como as categorias e classificações.
Leandro Muniz
TEXTO: MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
11.06.2019
PLAY (2011)
[Play]
de Ruben Östlund
com Anas Abdirahman, Sebastian Blyckert, Yannick Diakite
118 minutos
Na próxima terça, 11 de junho, às 20hs, Cineclube apresenta Play do diretor sueco Ruben Östlund (1974). O filme apresenta uma reflexão controversa sobre a sociedade contemporânea, baseando-se – segundo o diretor – em uma “história real”: o julgamento de 5 garotos suecos negros que conseguiram realizar 40 assaltos de meninos brancos no centro de Gotemburgo, entre 2006 e 2008. Atores não profissionais desempenham de forma exemplar o papel dos jovens assaltantes e assaltados, mantendo todos seus nomes verdadeiros. A cidade sueca é o palco para a ação do filme. A câmera, situada no nível dos olhos dos atores, permanece na maior parte do tempo estática, raramente movendo-se com suavidade em zoom ou pan. Os atores se movem dentro e fora do quadro, enfatizando tanto a quietude da câmera quanto a posição passiva do espectador. A distância entre a câmera e os atores – e entre estes e o público – assim como a ausência de música extradiegética potencializam de maneira perversa a ilusão de “neutralidade” da narrativa e a posição voyeurística do espectador. Play explora os preconceitos que a cor da pele carrega na Suécia – e não apenas lá. Os garotos brancos são construídos como confiantes, inocentes e mesmo bobos enquanto os jovens negros são retratados como perigosos e manipuladores, parte de um regime de representação preconceituoso hegemônico. Violentos, homofóbicos e sexistas eles incorporam o “Outro”, a diferença (negativa) em relação à fantasia de uma sociedade “igualitária” e “civilizada”. Play explicita o luto da Suécia pela perda do passado – quando a discórdia racial era problema dos outros. O filme desconstrói de forma cruel a fantasia da homogeneidade europeia branca, deixando claro que a própria presença da heterogeneidade – representada pelos meninos negros – é o problema real. Ruben Östlund começou dirigindo filmes de esqui nos anos 1990, o que o levou a estudar na escola de cinema de Gotenburgo. Em 2017, seu filme O quadrado, recebeu a Palma de Ouro em Cannes. Play também ganhou diversos prêmios em festivais de cinema, incluindo o Prêmio da Paz no Festival Internacional de Cinema de Tromsø, quando o júri declarou que: “lançando um olhar crítico sobre a espiral de alienação que aflige cada vez mais a sociedade escandinava contemporânea, o filme aborda alguns dos problemas mais urgentes de nosso tempo: a dissolução da responsabilidade individual, o fracasso da empatia, a queda na apatia e a indiferença destrutiva”. E o racismo?
